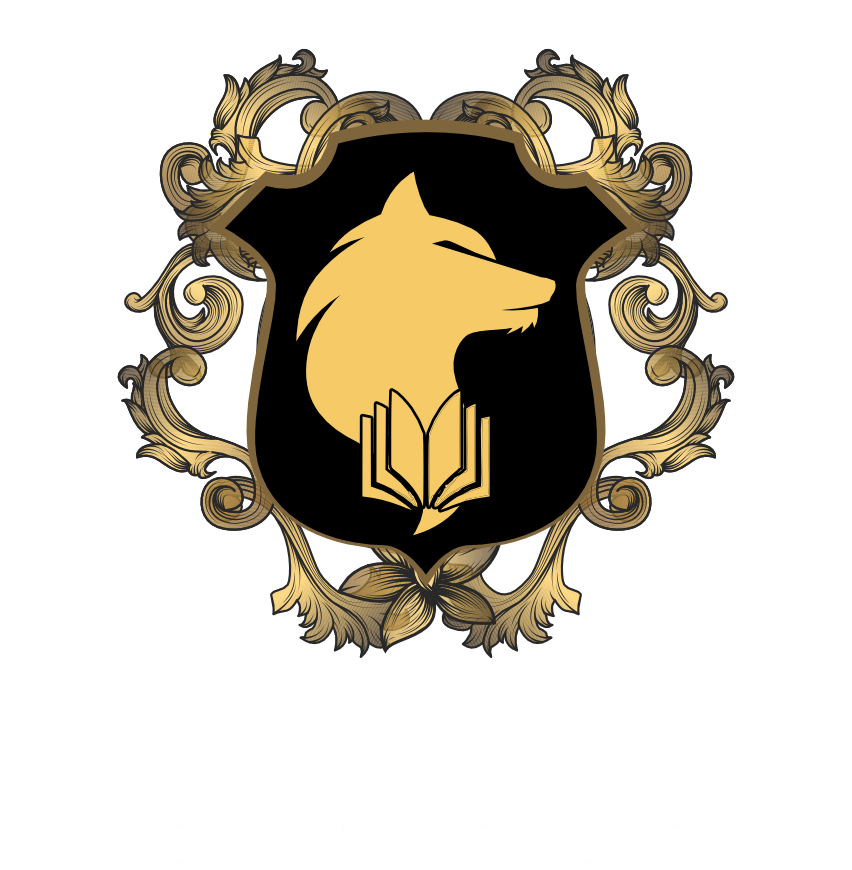Estreias geralmente despertam alvoroço, temores, ansiedade. Artistas estreantes almejam os primeiros aplausos e elogios, a aceitação do público e da crítica, uma recepção amigável para suas performances ainda inseguras. O palco, a vitrina, o saguão são intimidatórios.
Na literatura em particular, os livros de estreia podem passar quase despercebidos, encontrando uma meia dúzia de leitores pouco entusiasmados, ou podem de pronto arrebatar multidões, sob nomes de capa ainda desconhecidos. Tanto em um quanto em outro caso, podem ser a revelação de uma personalidade literária embrionária ou (por que não?) de uma já madura e bem nutrida, mesmo
que com meros vinte e poucos anos de vida. Sucesso e fracasso, nas letras e nas artes, dependem, é claro, de muitos fatores externos àqueles que aí se aventuram: a influência econômica ou política dos círculos sociais, o investimento de apoiadores públicos e particulares (principalmente na ausência dessa influência) ou a existência de um público minimamente adequado à proposta artística. Porém, o desejo nesta minha coluna de estreia na Revista The Bard – pela qual já sinto gratidão e ternura – é enfatizar o potencial revolucionário da própria narratividade literária, ou seja, mostrar um pouco do que um texto ficcional de estreia pode causar e mobilizar em todos nós.
Sendo assim, conto a vocês aqui a história da estreia de duas romancistas para mim fundamentais, que escolho para acompanhar a minha própria estreia como colunista. Afinal, invariavelmente, uma estreia é sempre inesquecível. Tais escritoras já foram, inclusive, analisadas e milimetricamente comparadas como se houvesse um tanto de uma na outra. Tais aproximações se justificam, como ficará evidente, mas não são o meu foco. A intenção é deixarmos que as autoras mostrem sua própria voz à sua maneira e no seu ritmo, porque cada estreia é uma estreia.
A escritora e editora britânica Virginia Woolf nasceu em Londres bem no início de 1882, sendo ainda Adeline Virginia Stephen. Recebeu sua educação em casa, sob a tutela de professores particulares, o que a desagradava, segundo suas biografias já publicadas. Enfrentou perdas irreparáveis desde os seus 13 anos, quando seus familiares mais próximos – a mãe, o pai e um dos irmãos – partiram num curto espaço de tempo, provocando-lhe fortes crises emocionais. Morando no bairro londrino Bloomsbury, por onde também circulavam outros nomes da literatura, como T. S. Eliot, Virginia reunia-se frequentemente com seus vizinhos e colegas intelectuais para discutir questões sociais, políticas e morais, formando com eles involuntariamente um grupo depois conhecido
como Círculo de Bloomsbury. Seus membros defendiam posições bem menos conservadoras em relação à sexualidade e à participação feminina na sociedade, por exemplo.

Foi nesse cenário familiar e intelectual que nasceu seu primeiro romance, A Viagem, publicadooficialmente em 1915, quando tinha 33 anos de idade e já estava casada com o crítico e editor Leonard Woolf. Porém, numa carta à amiga Violet Dickinson datada de 1906, Virginia menciona ter manuscritas 40 páginas de um livro que se supôs ser A Viagem. Isso significa que desde os seus 24 anos ela levava a sério a escrita, dedicando-se a um projeto cujo título em língua inglesa mudou de ‘Valentine’ e ‘Melymbrosia’ para o definitivo The Voyage Out, bem como mudaram ao longo dos anos as tantas versões dessa estreia literária. Seu primeiro romance emerge em meio à mudança de residência, às crises nervosas e à efervescência cultural londrina. Vale dizer que a editora que o publica é de seu meio-irmão Gerald Duckworth, uma facilitação inegável em seu início de carreira se lembrarmos o quão difícil era para as mulheres naquela época conseguirem publicar seus escritos, mesmo com pseudônimos masculinos.
A história em que transcorre a viagem da protagonista Rachel Vinrace, seus tios Ridley e Helen Ambrose e o casal Dalloway (isso mesmo, aí já estava a personagem-título de Mrs. Dalloway, um dos títulos mais famosos de Virginia, que veio a público dez anos depois), num navio cargueiro a um país da América do Sul (muito provavelmente o Brasil, há quem diga), foi traduzida em nosso país pela também escritora Lya Luft, tradutora de outras obras da inglesa. Essa travessia oceânica parece revelar os mesmos altos e baixos de sua vida: logo após o lançamento em 1915, Virginia passou por uma longa internação, já tendo tentado o suicídio algumas vezes. Tais experiências certamente convergem para a densidade psicológica meio enevoada de diversas de suas personagens femininas, incluindo Rachel.
É possível sentir essa aura existencialmente inquieta neste trecho em que a jovem interrompe uma ação banal para buscar o sentido mais profundo da sua própria presença naquele lugar e instante:
O que eu quero saber – disse ela em voz alta – é isso: qual é a verdade? Qual a verdade de tudo? – Falava sempre em parte como ela mesma, e em parte como a heroína da peça que acabava de ler. A paisagem lá fora, já que ela nada vira senão letra impressa pelo espaço de duas horas, agora parecia surpreendentemente sólida e clara, mas, embora houvesse homens no morro lavando troncos de oliveiras com um líquido branco, por um instante ela pensou que era ela própria a coisa mais viva na paisagem – uma heróica estátua no primeiro plano dominando a vista. As peças de Ibsen sempre a deixavam nesse estado. (WOOLF, 2020, p.153)
Rachel pensa como Rachel e como as personagens dos livros que lê. Nem sabe distinguir-se. Investiga profundezas. Não se contenta com as delimitações visíveis das coisas, dos objetos e ambientes, do dentro e do fora. Ela procura as delimitações sensíveis. A cena parece um lampejo do processo narrativo posteriormente chamado pela crítica de “fluxo de consciência”, mais característico dos livros subsequentes de Virginia e marcante em outros autores da literatura mundial, como Marcel Proust (1871-1922). Nesse fluxo de consciência da personagem se desdobra uma sequência emaranhada de pensamentos, percepções, dúvidas, hipóteses e teses sobre assuntos, fatos, memórias, outras personagens e até sobre o seu próprio estado de ânimo mais profundo. Neste segundo trecho creio que esse recurso se faça mais evidente:
Os sons do jardim lá fora uniram-se aos relógios e aos pequenos rumores do meio-dia, que não se podem atribuir a nenhuma causa definida, todos num ritmo regular. Era tudo muito real, muito grande, muito impessoal, e depois de um ou dois momentos ela começou a erguer o dedo indicador e deixá-lo cair sobre o braço da cadeira como se trouxesse de volta alguma consciência de sua própria existência. Em seguida foi tomada pela estranheza indizível com relação ao fato de estar sentada numa poltrona, de manhã, no meio do mundo. Quem eram as pessoas movendo-se na casa… movendo coisas de um lugar a outro? E a vida, o que era aquilo? Era apenas uma luz passando na superfície e desaparecendo, como ela mesma com o tempo desapareceria, embora os móveis do quarto fossem ficar? Sua dissolução tornou-se tão completa que não conseguia mais erguer o dedo, e sentou-se totalmente quieta, olhando sempre o mesmo ponto. Tudo se tornava cada vez mais e mais estranho. Foi assaltada pelo assombro de que as coisas talvez nem existissem… Esqueceu-se de que tinha dedos para erguer… (WOOLF, 2020, p.155).
Percebemos nessas linhas como se intercalam o discurso indireto da voz narradora e as perguntas e sensações de Rachel, que nesse ponto do enredo já está doente e acamada. A protagonista, num breve resumo da obra, vive a jornada de embarcar numa viagem para buscar um plano de vida e terminar essa vida dissolvendo-se lentamente, corpo e alma.
A escritora e jornalista brasileira Clarice Lispector também perdeu seus pais precocemente, estreou jovem nas letras, com um romance cuja protagonista também questiona, do âmbito mais amplo ao mais ínfimo, a realidade. Mas admitiu em entrevista não ter lido Virginia, não sentir ecos da antecessora em seus textos, nem aceitar a atitude da inglesa de finalmente ter se suicidado em 1941.

Chaya Pinkhasovna Lispector nasceu na Ucrânia no final do ano de 1920, e logo mudou-se para o Brasil, aos dois anos de idade, com sua família de origem judia, devido à perseguição durante a Guerra Civil Russa (1918- 1920). Fixaram-se em Alagoas, onde já residia sua tia materna, e a menininha passou então a se chamar Clarice. Depois mudaram-se para Pernambuco, onde frequentou bons colégios, aprendendo rapidamente a ler e escrever não só em português, já que tomava aulas de inglês e francês e ouvia muito um dos seus idiomas de origem, o iídiche, em casa. Nesse período já escrevia seus primeiros contos e peças teatrais, alguns enviados a jornais na tentativa de publicação em seções infantis, sem sucesso (em razão provavelmente de não seguirem fórmulas tradicionais). Aos 14 anos de idade, mudou-se novamente, desta vez para o Rio de Janeiro, onde terminou o ginásio e ingressou na Faculdade de Direito da então Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Em 1940, precisando de recursos e já propensa à escrita literária e à tradução mais que à advocacia, conseguiu estampar um ou outro texto em jornal ou revista. Em 1943, ano de sua formatura, estando já empregada como redatora e casada com seu colega Maury Gurgel Valente, Clarice publicou seu romance de estreia, Perto do Coração Selvagem. Simplesmente um espanto para a época. Uma narrativa que quebrava a linearidade do início, meio e fim em sua arquitetura de capítulos, fundia prosa e poesia e mergulhava nas profundezas da protagonista Joana, no mais íntimo feminino. Aos 23 anos, a escritora brasileira inaugurava tendências literárias, embasbacava públicos, era aclamada pela crítica e homenageada com o Prêmio Graça Aranha. Tudo com seu livro de estreia.
Depois de várias viagens internacionais na companhia do esposo, então diplomata, alguns períodos de morada em países europeus como Suíça e Inglaterra, outras publicações e incursões pela brevidade dos contos, e do nascimento dos filhos Pedro e Paulo, Perto do Coração Selvagem é publicado em francês em 1954. Novos públicos vão sendo conquistados pelo livro atravessado pela introspecção, pelo ato manifesto de Joana de (se) colocar em questão o tempo todo, pelo passado que retorna ao presente carregando consigo infância, orfandade, internato, descobertas afetivas, casamento, tudo.
Bem, aí vocês podem me perguntar: temos na Joana de Clarice, de certa forma, o mesmo fluxo de consciência da Rachel de Virginia? A minha sensação como leitora deste trecho é que tal fluxo é mais potente e intenso:
Tudo isso era impossível de explicar, como aquela palavra “nunca”, nem masculina nem feminina. Mas mesmo assim ela não sabia quando dizer “sim”? Sabia. Oh, ela sabia cada vez mais. Por exemplo, o mar. O mar era muito. Tinha vontade de afundar na areia pensando nele, ou senão de abrir bem os olhos, ficar olhando, mas depois não achava para que olhar. Na casa da tia certamente lhe dariam doces nos primeiros dias. Tomaria banho na banheira azul e branca, uma vez que ia morar na casa. E todas as noites, quando ficasse escuro, ela vestiria a camisola, iria dormir. De manhã, café com leite e biscoitos. A tia sempre fazia biscoitos grandes. Mas sem sal. Como uma pessoa de preto olhando pelo bonde. Ela molharia o biscoito no mar antes de comer. Daria uma mordida e voaria até casa para beber um gole de café. E assim por diante. Depois brincaria no quintal, onde havia paus e garrafas. Mas sobretudo aquele galinheiro velho sem galinhas. O cheiro era de cal e de porcarias e de coisa secando. Mas podia-se ficar lá dentro sentada, bem junto do chão, vendo a terra. A terra formada de tantos pedaços que doía a cabeça de uma pessoa pensar em quantos. O galinheiro tinha grades e tudo, seria a casa dela. E havia ainda a fazenda do tio, que ela apenas conhecia, mas onde passaria d’agora em diante as férias. Quantas coisas estava ganhando, hein? Afundou o rosto nas mãos. Oh, que medo, que medo. Mas não era só medo. Era assim como quem acaba uma coisa e diz: acabei, professora. E a professora diz: espere sentada pelos outros. E a gente fica quieta esperando, como dentro de uma igreja. Uma igreja alta e sem dizer nada. Os santos finos e delicados. Quando a gente toca são frios. Frios e divinos. E nada diz nada. Oh, o medo, o medo. (LISPECTOR, s/a, ed. digit., pp.21-22)
Proponho que pensem um pouco sobre o que sentem depois da leitura. Que efeito tem. Que humanidade desvela. Porque Clarice é uma grande desveladora de humanidade. Tenho a impressão de que arranca os véus que cobrem nossos olhos com força, sem sutileza, sem riso no rosto, ela, uma mulher, sabemos, considerada por muitos amigos “esquisita”, taciturna, extremamente misteriosa.
Sua Joana me marcou muito na faculdade. Tanto que alguns anos depois, quando já eu lecionava, escolhi um trecho desse seu primeiro romance para elaborar uma questão de prova para meus alunos, dada a maestria com que aborda as complexas relações entre a linguagem e a consciência. Sem dúvidas, é meu trecho preferido de Joana, da sábia Joana, que na verdade não sabe responder, mas sabe perguntar como ninguém:
Olho por essa janela e a única verdade, a verdade que eu não poderia dizer àquele homem, abordando-o, sem que ele fugisse de mim, a única verdade é que vivo. Sinceramente, eu vivo. Quem sou? Bem, isso já é demais. Lembro-me de um estudo cromático de Bach e perco a inteligência. Ele é frio e puro como gelo, no entanto pode-se dormir sobre ele. Perco a consciência, mas não importa, encontro a maior serenidade na alucinação. É curioso como não sei dizer quem sou. Quer dizer, sei-o bem, mas não posso dizer. Sobretudo tenho medo de dizer, porque no momento em que tento falar não só não exprimo o que sinto como o que sinto se transforma lentamente no que eu digo. Ou pelo menos o que me faz agir não é o que eu sinto mas o que eu digo. Sinto quem sou e a impressão está alojada na parte alta do cérebro, nos lábios — na língua principalmente —, na superfície dos braços e também correndo dentro, bem dentro do meu corpo, mas onde, onde mesmo, eu não sei dizer. (LISPECTOR, s/a, ed. digit., p.11).
Virginia e Clarice revolucionaram. Um mundo predominantemente branco e masculino. Se entregaram à escrita para sua sobrevivência enquanto mulheres. Não dependiam dos aplausos e dos prêmios (que naturalmente vieram), porque jamais escreviam para alguém além de si mesmas, porque escreviam para talvez fugirem da loucura, não acham?, dos fantasmas insistentes ou das banalidades indigestas demais.
Não finalizo sem antes mencionar que Clarice também experimentou a literatura infantil, com seu O Mistério do Coelhinho Pensante, logo premiado. Esse foi o mesmo caminho que eu encontrei para estrear na ficção, com meu De quem é a rua?. E é um novo caminho que a Revista The Bard me permitirá explorar junto de vocês nas próximas colunas. Até lá!
Por VANINA SIGRIST