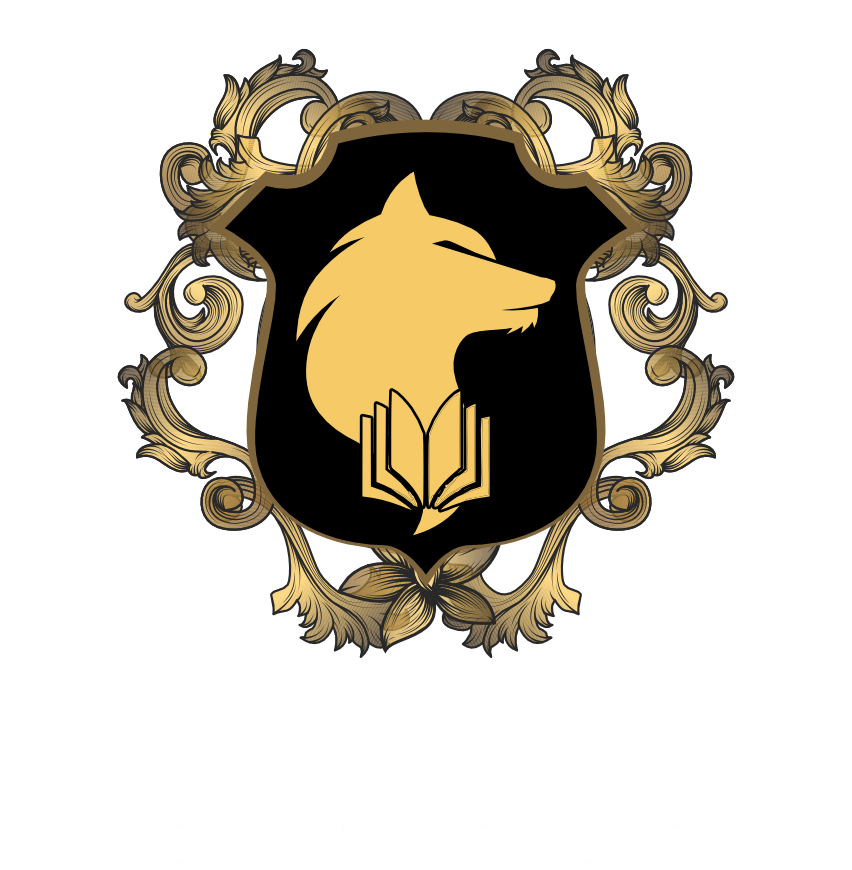DEMOCRATIZAÇÃO DA ARTE EM ESPAÇOS, CLASSES, ECONOMIAS e CORPOS – passeando entre Joinville e os espaços em branco de P. Auster
Essa coluna é publicada na edição de julho da nossa revista, e todo mês de julho me deixa nostálgica… é o meio do ano e já foi o centro da minha vida de jovem bailarina: Festival de Dança de Joinville! É dele que estou falando, o maior e mais importante do país, acontece nessa época. Em 2022, chega a 39ª edição, todas repletas de grandes nomes, grandes trabalhos, diversas modalidades, diversidade e muita dança.
A grande atração de abertura este ano fica por conta do Balé do Teatro Guaíra (BTG). Lembro dos meus olhos de menina bailarina, cheios d’água, vendo “O Segundo Sopro” (1999), conhecido como “balé das águas”, a primeira coreografia no Brasil que tinha chuva no palco, inovação trazida pelo BTG. Dançar é entrega. Deixar molhar é uma fusão do corpo com a natureza que simboliza bem o que atravessa a bailarina no palco. Esse enigma, esse sentir, esse êxtase, sempre me capturou. Estar na chuva é querer molhar… dança transpira e chora naturalidades.
Apesar de ser linda a atmosfera artística que atrai o festival, há algo importante a ser lembrado e discutido: o quanto a arte é acessível? Do que vivem os bailarinos e como financiam suas idas a eventos importantes assim?
Conversei com a bailarina Helen Ribeiro, graduada com Licenciatura em Dança pela UFMG, e que está indo pela quinta vez a Joinville. Assim me contou: “A minha escola sempre fazia excursão para Joinville e, aos 14 anos, pedi para ir (como presente pelo aniversário de 15 anos). Queria estar com meu grupo e vivenciar todas as experiências possíveis. Nessa época, estava muito apaixonada e envolvida com ballet clássico. Depois disso, fui mais algumas vezes, porém sempre para fazer cursos e assistir danças. Nunca cogitei dançar nos palcos. Achava impossível ser selecionada no meio de tantas pessoas boas”.
Em especial desta vez, Helen teve seu vídeo aprovado nas seletivas e se apresentará nos palcos do festival com sua dança de salão. No entanto, ela fala das dificuldades para realização desse sonho: “(…) a dificuldade enquanto artista jovem e autônoma é arrecadar dinheiro que cubra custo básico da viagem, comida, hospedagem e avião. Por ser um festival grande e nas férias, tudo se torna três vezes mais caro e ainda como artista e professora não alcancei um salário que mereço e que permita viver tranquila. Principalmente, após ter ficado um tempo sem poder trabalhar pela pandemia, a classe artística foi muito afetada e ainda estou buscando espaços e oportunidades para fazer o que tanto amo: trabalhar com Dança.”
Helen está correndo contra o tempo para arrecadar o valor que possibilite estar presente no festival e, na próxima edição da coluna En Dehors, poderá ser lida sua entrevista completa (com relato sobre a realização desse sonho, conforme esperamos!). Até lá, os passos dessa jornada podem ser acompanhados pelo IG @bailarinahelenribeiro .
Nossa entrevistada não é um caso isolado. Lembro da diferença com que convivi (na pele). No mesmo grupo em que eu dançava, havia quem fosse para o festival viajando de avião (saíamos de São Paulo) e emendando uma semana de férias no Beto Carrero World. Eu ia de ônibus, com dinheiro calculado para uma semana de alimentação e – que minha mãe não leia isso (risos) – economizava na comida para trazer uma camiseta do festival para casa. O Centreventos, onde aconteciam as apresentações, era uma tentação para as bailarinas comprarem: sapatilhas, vestimentas e todos os acessórios do mundo da dança nos eram oferecidos o tempo inteiro.
Já ouviram alguém dizer que o ballet (e a cultura no geral) é para elite? Pois bem…
Por falar em realidade socioeconômica, decentralizar ações culturais é algo de importante que a turma da dança costuma fazer. E é preciso que seja feito sempre e ainda mais. Nos últimos dias 25 e 26 de junho, estive no palco do Encontro da Dança, que reuniu 40 escolas de dança da cidade de Belo Horizonte (MG) em apresentação gratuita no Shopping Boulevard. Democratização da arte.
Dancei, desde adolescente, nos chamados palcos livres, montados nas ruas, em praças públicas, centros comerciais, em Joinville, Ribeirão Preto, Campos do Jordão, entre outros. Arte precisa ser ofertada, compartilhada, vivida socialmente. Não se trata de nenhuma aproximação com a política do “pão e circo”, mas sim do circo ser o pão para mais que o corpo: de riso e beleza também se vive e se faz viver.
Existe algo na dança que prescinde de palavras. Há uma linguagem de gestos construídos na sintaxe do inconsciente que põe tanto bailarinos quanto expectadores diante do que são os significados de cada dizer do corpo para si.
Mencionei, na edição passada, que traria algo de bonito que vi na biografia do poeta Paul Auster: o poeta a quem a dança abalou.
O norte-americano teve seus poemas escritos entre 1967 e 1980 e dizia que “poesia é como tirar fotografias, enquanto prosa é como rodar um filme”.
Em dezembro de 1978, Auster, por acaso, assistiu a um ensaio de um espetáculo de dança coreografado pela amiga de um amigo. Algo aconteceu… A dança mexeu com o poeta a ponto de movê-lo a escrever em um tempo que pouco vinha produzindo. Ele havia praticamente cessado com sua escrita, conforme havia dito em entrevista concedida a Larry McCaffery e Sinda Gregory, em A arte da fome, no mesmo ano. Sem fotografias…
Da inspiração daquele momento, Auster começa a escrever o texto intitulado “Espaços em branco” que diz não ter gênero claro e ter sido uma libertação. Um breve compilado de trechos do trabalho é capaz de nos apontar o tamanho do encantamento que a dança proporciona.
Assim ele inicia: “Algo acontece, e a partir do momento em que começa a acontecer, nada poderá voltar a ser como era”. Era dança o que acontecia defronte a seus olhos. E algo de ininterpretável acontecia das retinas para dentro. Irreversível.
Ele prossegue: “Algo começa, e já não é mais o começo, mas outra coisa, que nos impele ao coração da coisa que acontece” … o peito do poeta pulsando com a batida do bailado que vê. Sobre o quanto o movimento dançado comunica, prossegue, em sua prosa de libertação: “(…) sons não são menos um gesto do que é uma mão quando se estende no ar para outra mão, e nesse gesto pode-se ler todo o alfabeto do desejo, a necessidade do corpo ser levado para além de si próprio, mesmo quando reside na esfera de seu próprio movimento”.
Eis um mistério universal: não há quem saia o mesmo quando se permite dançar, seja no palco, seja na cadeira de expectador. Os corpos ficam a serviço do mundo simbólico, inventando novas formas de expressão: dialeto de desejos!
Tal universalidade abrange toda a diversidade e a sessão Pas De Deux dessa edição traz uma conversa para lá de relevante e esclarecedora, ainda sobre a democratização da arte, mas sob outro viés.

Dança menina dança.
Tira a roupa de mulher e faz semblante de maré.
Valsa a vontade movediça de ter pé em chão de areia:
sempre em movimento, sempre de passagem.
Escuta o bandolim que faz brisa nos pelos e veste a pele de música.
Dança, menina, dança!
Sabendo que dançar é risco que se toma com todo o corpo:
risca o ar e escreve o gesto.
Deixa a alma escapar pelos poros porque dançar não é performance.
A estética mais encantadora é a da pulsão que sobressalta em dança e
atravessa o real do corpo numa eloquência silente.
Dança (inconsciente) dança! Escancara os restos e não ditos que não
escoam de nenhuma outra forma. Deixa o mar cobrir sua embarcação de
todos os sentimentos naufragados pela dureza da vida.
Dança… da menina à mulher, da cabeça ao pé, coreografada pelo indizível.
Dança só e só dança.”
Por DANIELA LAUBÉ