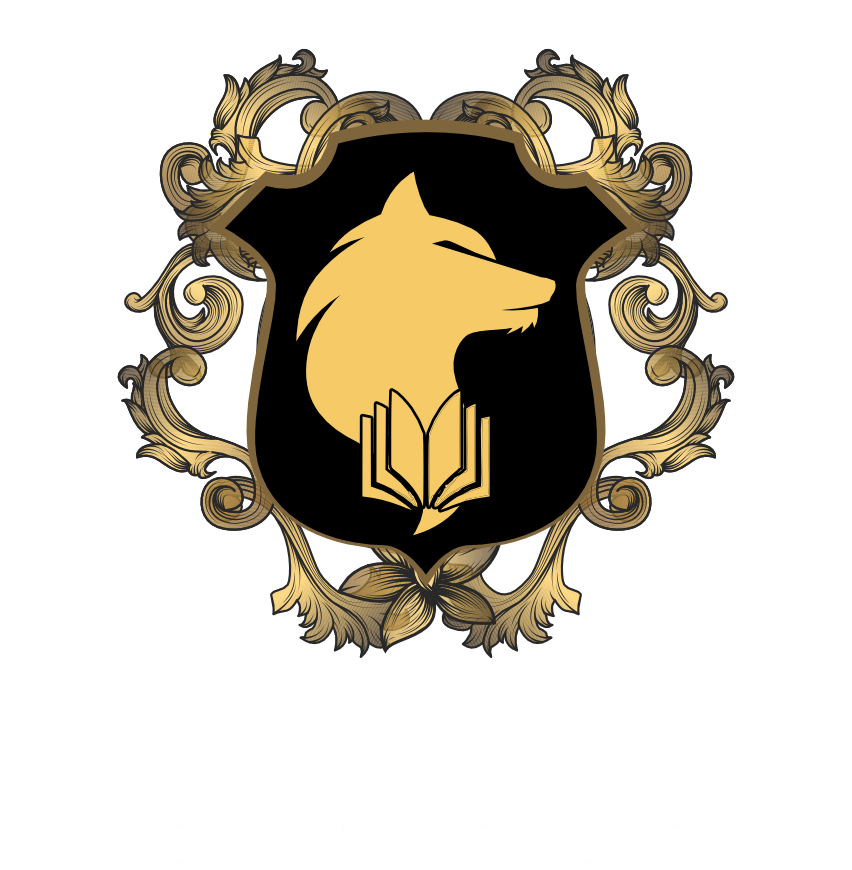Eu não fiquei assustado, nem em pânico: o que tomou conta da minha mente foi o verdadeiro e puro horror.
Aquele era eu.
E não estou dizendo que ele se parecia comigo, antes fosse. Se ao menos o maldito se parecesse comigo eu poderia julgar que estava sendo vítima de um Doppelganger e teria atacado ele em fúria justificada, pelo menos, aos meus pensamentos. Aquele era eu, mas uma versão melhorada de mim. Como se eu não tivesse perdido meu canino, pois o sorriso da coisa era perfeito. Seus dentes, brancos como o véu de uma noiva virgem. Ele não apenas sorria, ele gargalhava, feliz, trazendo minhas filhas de volta da escola. E o horror não estava apenas na coisa que se passava por mim, estava no contexto da reação delas. Elas estavam felizes, se divertindo, achando graça das brincadeiras que meu outro eu fazia. Elas o conheciam. Ele era, indubitavelmente, o pai delas. Mas eu era o pai delas!
Elas eram minhas filhas. Aquilo não parecia importar.
Desviei o olhar para o muro mais próximo, disfarçando e observando o trio com minha visão periférica. Eu havia enlouquecido? Tinha tropeçado em algum buraco negro e ido parar em outra dimensão? O mundo estava em colapso e aquele era meu apocalipse pessoal?
O cachorro. O bendito cachorro me reconhecia. Eu havia pego a pequena yorkshire preta e marrom que tínhamos e levado para passear no caminho ridiculamente próximo entre nossa casa e a escola das meninas. Quando a chamo de bendita, não é como os hipócritas que fazem um elogio escondendo o verdadeiro intento de dizer o oposto: era realmente uma cadelinha de alma boa.
Alarmado, percebi que eles se aproximavam e que eu estava divagando para tentar manter um fio de sanidade diante daquela realidade aterradora. Tentei fugir, mas meu sentimento patriarcal não me deixou ir longe. Alguns passos depois eu estava os observando, sorrateiro, vendo se iriam na mesma direção da minha morada. Eles foram. Eu os segui, determinado.
Fiz um esforço cósmico para processar aquilo tudo e tentar ser covarde, ir embora, deixar isso por isso mesmo, afinal, ele era eu, e era um eu aparentemente muito melhor. Minha mais velha sempre quis que eu fosse mais bonito, e o desgraçado era lindo. Não tinha minha barriga proeminente. Não havia marcas de cansaço em sua forma de andar. Seu rosto era radiante e atraente, e ele se vestia com estilo e compostura adequada para um homem maduro de 41 anos.
Eu era um bagaço, comparado aquela fruta perfeita.
Não consegui me convencer. Não por medo de desaparecer: morrer, após ver aquilo, seria um alívio. Ele continuaria meu trabalho melhor que eu e eu poderia apenas ser esquecido. Pensei em correr pelo quarteirão e entrar em casa antes deles, e senti a chave do apartamento em meu bolso. Talvez, ao entrarem, aquele pesadelo terminaria ou algo assim, mas não podia correr esse risco. Ele provavelmente chamaria a polícia por invasão e as crianças iriam achar que eu sou um gêmeo mau. Precisava de um plano melhor.
Deus, as crianças realmente o conheciam e reconheciam como pai! Que desesperador! Isso estava tão errado. Aquelas filhas eram minhas! Minha responsabilidade.
Uma ideia me veio à mente, e se funcionasse, eu teria minha oportunidade. Não poderia enlouquecer as meninas simplesmente abordando o conjunto, mas, se ele fosse realmente como eu, iria deixar as meninas subirem na frente, a mais velha com a chave, cuidando da caçula, dois lances de escada, enquanto ele iria buscar um novo saco plástico para o cocô do cachorro na esquina do prédio. Havia uma maldita cópia do bendito cachorro também. Para minha sorte, o Sr. Perfeito respeitava as normas do condomínio e fez exatamente o que eu previra. Avancei, atravessando a rua. Pensamentos combativos vieram à minha mente, mas não faria o menor sentido ferir a mim mesmo, sendo eu alguém que nunca esteve disposto a ferir ninguém, com exceção de casos extremos que, por providência divina, jamais aconteceram. Gritei ao chegar na calçada onde ele estava: “Ei, VOCÊ!” Meu semblante devia estar furioso, frustrado, indignado, mas se o Universo decidira me enlouquecer com aquilo, um louco eu seria então, mas não me entregaria sem lutar. A expressão dele era de espanto e perplexidade. Ele me olhava como se eu fosse um escárnio existencial, uma sátira dele mesmo, uma caricatura extraplanar.
— Quem é você? O que significa isso? — balbuciou aterrado.
Talvez ele esperasse que eu dissesse meu nome para confirmar que estava alucinando. Parecia que ele desejava o clássico “eu sou você, cara”, mas eu não daria esse gostinho a ele. Só havia uma única resposta, uma única coisa que eu era e que havia me sobrado em meio àquela turbulenta colisão de sobreposições de identidade e eu lutaria como uma fera faminta devorando o primeiro peixe após um longo inverno para manter isso comigo:
— EU SOU O PAI DELAS! — gritei a plenos pulmões, e a expressão que ele fez foi de total desorientação e pasmar.
Eu poderia jurar que ele sorriu um micro instante antes de desaparecer, com cachorro e tudo. Não um sumiço evanescente, como nos filmes, a coisa simplesmente não estava mais lá, como se nunca tivesse estado antes. Os vizinhos apareciam nas janelas de suas agradáveis casas; me olhavam curiosos, sedentos para julgar se eu era um louco ou se estava passando por alguma crise, uma briga. Aquilo me deu uma ideia repentina. Peguei com alguma dificuldade o telefone celular do bolso e repeti para o aparelho, levando-o a orelha esquerda.
— Minhas filhas, entendeu?! — falei alto o suficiente para todos ouvirem, mas nem com 1 centésimo da altura do meu berro anterior.
Olhei ao redor fingindo aborrecimento e caminhei acelerado para casa. Precisava saber. As crianças estavam em casa? Eu havia surtado, ainda nem as buscara na escola e elas estavam esperando por último? Aquilo tudo havia realmente acontecido?
Subi cada degrau como se minha vida dependesse disso, e, de certa forma, dependia. Ia pegar a chave no bolso, mas desisti da ideia. Se as meninas estivessem em casa, elas tinham a cópia que o anjo as dera e se ele não tivesse levado a minha quando desapareceu para onde quer que tivesse ido, eu iria simplesmente jogar a minha no lixo tentando esquecer tudo aquilo. Meti a mão na maçaneta. Meu coração disparou quando ela abriu. Esqueci ela aberta? As crianças gritaram quando me viram. Estão assustadas? Sou um invasor para elas, uma cópia malfeita e estragada do seu pai?
— Papai! — a mais velha gritou.
Eu entrei, ainda confuso.
— Barrigão do papai! — disse minha caçulinha me abraçando.
Óbvio que não deixaria elas me verem chorar. Abracei de volta como se eu nunca as tivesse visto antes, mas como se nada demais tivesse acabado de acontecer. Perguntei se as duas já haviam usado o banheiro do nosso modesto apartamento de 2 quartos e me tranquei lá dentro quando elas disseram que sim. Chorei como um presidiário que acabara de receber a notícia que seria solto no dia seguinte, mas que não queria provocar a inveja dos companheiros de cela e acabar sendo atacado: em silêncio, para não ser ouvido.
Após algum tempo, encarei o espelho da pia, e vi minha velha cara de sempre lá, com os olhos avermelhados pela emoção e um furor incontrolável, repleto de gratidão por aquilo ter acabado.
Toquei com a mão no bolso. A maldita chave estava lá.
Mas elas me amavam, com barrigão e tudo, e só isso importava naquele momento.
No fundo do colorido dos meus olhos refletidos no espelho, eu tinha certeza que o anjo estava lá, me observando, satisfeito com a lição que me ensinara. Não consegui ter temor, por isso, dei a ele uma boa dose da franqueza humana:
— Faça algo parecido novamente e eu juro que te mato.
Todavia, debaixo de toda aquela egocêntrica tentativa de rótulo e controle, no fundo mais íntimo de minha alma eu sabia que ninguém ouvira minha ameaça, pois nunca houve anjo nenhum. Jamais saberei quem ele era, ou se ele realmente sorrira antes de sumir.
Até hoje, não tive coragem de me livrar da maldita cópia da chave.
Por EDU RAVALLET