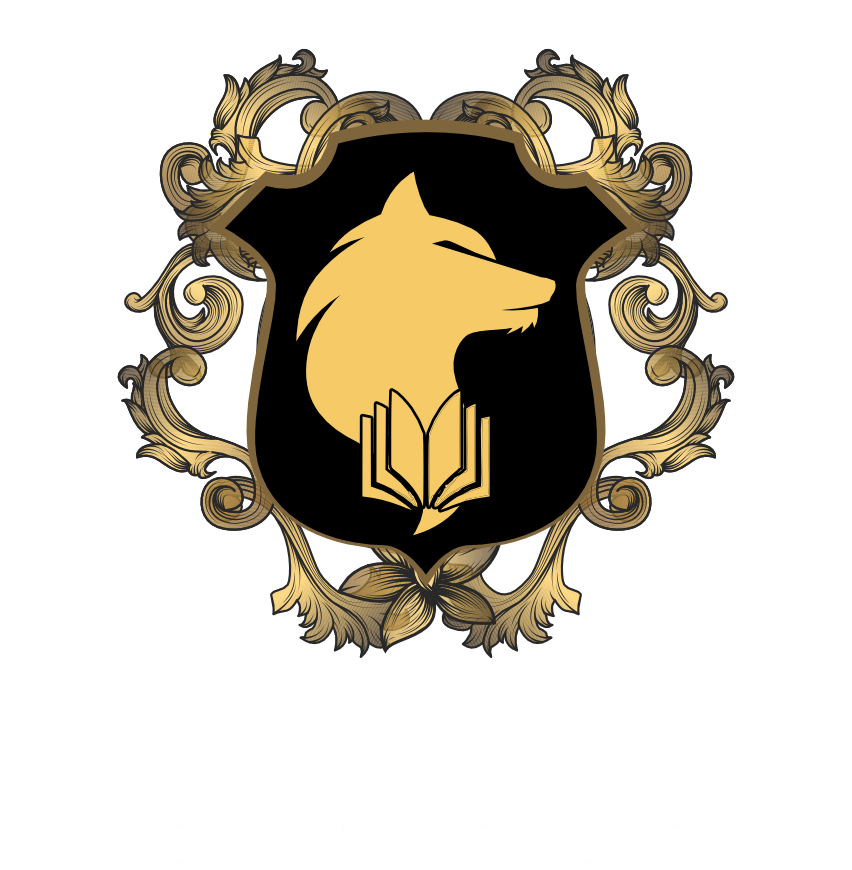Dei com a mão e o ônibus que pontava na esquina logo indicou que ia parar: a seta. Abriu a porta e eu subi. “Tome aqui, minhas moedinhas” – a cobradora, sem me olhar, liberou a catraca. Meia dúzia de gato pingado mosqueava dentro do coletivo. Eu conseguia ouvir o zunido dos cansados. Bzzzzzz. Já era noite. Fiquei até mais tarde lavando as vidrarias. Água, sabão, e o algodão para secar. “A bucha sempre do lado amarelo”, a patroa me advertiu. O pano de prato branco, cem-por-cento algodão. “Se molhar demais o pano, pega outro! Pano molhado não seca”, ela disse. Depois, lavei os panos limpos que usei para secar os copos limpos da água limpa. Água, sabão, algodão. A patroa era exigente, mas argumentava pagar bem. Ela pagava bem? Mas muito exigente. Me sentei no banco individual ao lado da porta de desembarque.
A patroa não era ruim, não totalmente. Às vezes agia como uma mãe, aconselhava, ensinava como fazer as coisas, mas do jeito dela. Já me presenteou, me deu umas roupas usadas. Um terninho e sapatos de salto. “Eram da minha sobrinha, que foi para o exterior”, ela respondeu quando questionei se as peças haviam pertencido a ela. Eu sabia que não, ela não tinha o porte. Tampouco teve uma filha que lhe deixou roupas. Odiava crianças. Não me perguntou se eu precisava de algum dinheiro ou qualquer ajuda para pegar o avião e ir ver meu menino. Ela realmente deveria achar que me pagava muito. Ou pensava que dá para sustentar criança com resto de biscoito importado, que sobra do chá da tarde. “Tome, querida”, ela me disse. “Tome esses biscoitos amanteigados que minha cliente trouxe da França!”. Ela era advogada, e o chá geralmente era inglês.
Sorte que minha amiga me ajudava, a diarista do apartamento ao lado. A minha amiga e o porteiro. Sei bem que ele tinha outras intenções, mas era boa gente. A prova disso é ele ter me ajudado. Vivia me chamando para sair, cheio de suas intenções. “Uma geladinha? Nem uma geladinha? Hoje é sexta feira, morena!”. “Quem ele pensa que é?”. Mas era boa gente. “Murchou quando soube do seu filho e do seu marido”, disse a amiga. Retruquei que não tinha marido coisa nenhuma, “é só o pai do meu filho, muito infelizmente”. Ela disse que ele murchou, mas mesmo assim topou me ajudar, emprestar parte do dinheiro para a passagem. Ela fez tudo escondida, juntou umas economias com a grana que o porteiro emprestou e me deu. “Compre a passagem de avião e nem se preocupe em devolver esse dinheiro, vá ver seu menino que está doente”, ela falou e me entregou o bolinho de dinheiro envolto no elástico encardido. Senti uma ardência no nariz e meus olhos lacrimejaram na hora. Não sou de chorar, mas nessas horas…
“Doente. De cama”, ele me disse no telefone. “Quer ver a mãe, só fala nisso”. “Será uma gripe forte? Uma virose… o que o médico disse? O que disseram no hospital?”. Quase implorei pelas informações, ele não quis me ajudar muito com isso. Me disse ainda que ia internar o menino e que se eu quisesse saber mais, que fosse falar diretamente com o doutor. “Para de ficar vadiando em cidade grande e vem cuidar do seu filho e do seu marido”. Nojento. E que marido, ein? Que marido que nem casou, nem deu anel. Me arrancou da casa da minha mãe, que também não era nenhum paraíso, e me arrastou para o interior do Paraná. Me meteu um filho na barriga e ainda tive que aguentar os tapas e empurrões, buchada. Que marido! “Vou ver o que faço”, eu disse e desliguei o telefone, na cara dele. Deve ter ficado ainda um tempo no outro lado da linha, latindo.
Me mudei para São Paulo para trabalhar, mandava tudo que conseguia para o menino. Minha patroa não gostava de criança, se não fosse isso, eu já tinha levado o menino. Ficava entre o casarão e o apartamento. Ela morava no casarão, com jardim e tudo. O jardineiro, que já havia me cantado, eu mandei pastar! Cuidava mais do apartamento, porque ela tinha me deixado morar lá. Recebia uns clientes ocasionalmente. Chá inglês, biscoito francês. Umas amigas e às vezes visitas mais íntimas. Durante algumas me pedia para ficar por perto, servir o chá, retirar as xícaras. Outras vezes me mandava ao mercado, e quando não faltava nada, ela me mandava ir passear.
Peguei na bolsinha de couro sintético branco o montinho de dinheiro enrolado e preso no elástico encardido. Ameacei contar novamente as cédulas. Amanhã, bem cedo, pego o primeiro coletivo para ir ao aeroporto – eu pensei. “Seria o de Guarulhos? Tem também o de Congonhas… Pego umas mudinhas de roupa, arrumo a bolsa ainda hoje, se o motorista colaborar. Acelera, motorista!” Ele deu a seta e parou num ponto. Sobem dois rapazes mal-encarados. Um branquelo, de olho azul, e outro mais novo, mulato. Dizem que não é bom termo, “mulato”, mas me chamam de mulata. Pretinha, filha de branca com negrão. Ninguém é cem-por-cento nada nesse país.
O rapaz loiro tinha uma cara de quem comeu e não gostou. Olho claro, mas jeito de favelado. A patroa havia me ensinado a reconhecer o tipo. Certa vez, acompanhei ela até o centro da cidade, e ela me disse “olha, filha, está vendo aquele tipo? Favelado. Tome cuidado com a bolsa!”. O mulato tinha uns olhos vermelhos, inchados. Não eram olhos de fumo, era de quem chorou. Guardei o montinho de dinheiro e apertei a bolsinha debaixo do braço.
Fiquei pensando no meu menino. “Quando eu chegar no Paraná, meu menino fica bom de novo” – pensei. Deveria estar morrendo de saudades da mãe, e eu também, com saudades dele. “Vou ver se dou um jeito, vou ver o que faço”. Fiquei matutando. “Seria tão bom se pudesse trazer o menino, eu e ele no apartamento. Levar ele para a creche, dez minutos de caminhada, mais ou menos”. Mas a patroa não suportava criança. “Não suporto criança!”.
O maltrapilho loiro passou pela catraca liberada. O mulato passou o dinheiro para a cobradora, e ela retrucou: “nota alta eu não troco”. O loiro, que já havia se afastado um pouco, se voltou para o parceiro. E eu vejo, na cintura dele. Sinto uma gota gelada de suor escorrer da minha testa. Gelada. Uma gota que quase empedrada escorre no meu rosto. Eu vi, na cintura dele, por baixo da camisa, presa na bermuda. Ele caminhava lentamente até a catraca, de encontro com o parceiro. Se teria dinheiro para a passagem do outro? Pouco importa. Ele tinha uma arma. Apertei com tanta força a minha bolsinha de couro sintético branco que quase a fiz sumir.
“Meu pai amado, ele dá a voz de assalto e está tudo perdido” – eu penso. “Tudo perdido! O dinheiro para a passagem de avião, a chance de ir ver meu filho doente, de cama. Meu pai do céu!”. Não sou religiosa, mas nessas horas… Senti um ardor no nariz, anunciando o choro vindo. Também não sou de chorar, mas nessas horas…
O motorista breca. Sinal vermelho. “Abençoado sinal vermelho”. Eu gritei, com uma força que só se esconde em timidez, “motorista, abre a porta. Preciso descer!”. O mulato, de cara fechada, me olhou. Me encarou com uma expressão funda, muito funda. Como se dissesse, com os olhos, “foge”. O loiro ainda estava de costas quando o motorista abriu a porta que estava ao meu lado. E eu escapo. Tão rápido que não dá tempo de processar a sucessão dos fatos. Começo a correr, com a cabeça meio atordoada. A bolsinha embaixo do braço. Vou na direção contrária à da rua de sentido único. Desapareço na escuridão iluminada pelas janelas dos prédios.
Por LEONARDO AUGUSTO