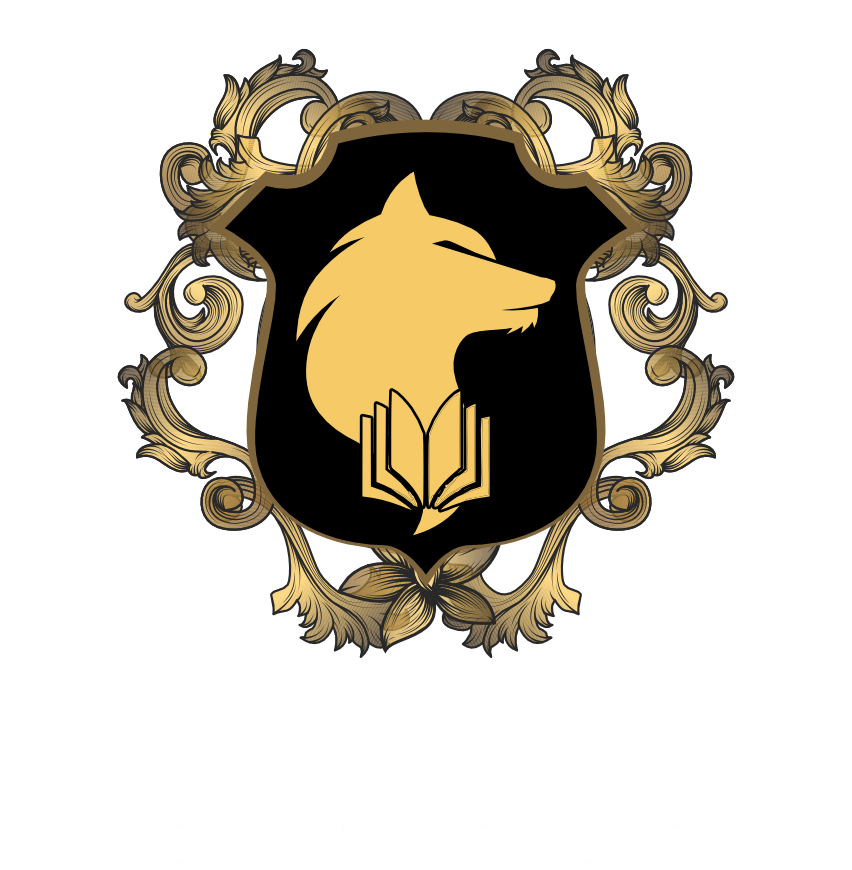Entre os adultos, cochichos e sussurros falavam de um anjo da morte que sobrevoava o vale de ossos secos. Para nós, crianças, o medo se infiltrava até nas brincadeiras. Diziam que ele vinha quando menos esperávamos, mas eu não queria acreditar. A verdade era que, no barracão 21, alguns passarinhos pousavam no telhado. Eles vinham de todas as cores e formas, mas já não entoavam mais suas canções.
As paredes do barracão existiam, sim, gastas e cheias de frestas, pouco protegiam do frio e da vergonha. A professora, com suas mãos suaves, ensinava-nos a desenhar. Usávamos giz de cera colorido para criar mundos de fantasia. O arco-íris que ela desenhava no quadro era sempre o mesmo, com cinco cores que nos rodeavam: azul, amarelo, verde, rosa e marrom. Os desenhos eram um portal para um futuro que ela dizia ser alegre, embora parecesse apenas um reflexo de um passado que mal podíamos lembrar. O sol era amarelo, as árvores com seus troncos marrons e folhas verdes e a coitadinha da joaninha era azul com pintinhas rosas. Achei engraçado, pois vi o quanto era diferente. Será que a cor importa tanto assim? Seja como for, a professora que fez.
Éramos dezesseis crianças, agora reduzidas a cinco. Montamos um coral para o Natal, mas a celebração estava longe de ser alegre. No dia da apresentação, fomos alinhados, os menores à frente, tremendo de medo. Cantávamos canções natalinas enquanto uma fumaça fedida invadia o ar. Os Caretas, nossos espectadores, usavam uniformes escuros e pistolas na cintura. Ficava ainda mais difícil perceber se as lágrimas das nossas mães eram de tristeza ou de amor. Foi tudo muito rápido, tão rápido que não chegamos nem na terceira música. As vozes vacilavam, mas a música precisava continuar. Choramos e os Caretas riram!
No meio da apresentação, a professora Ana gritou, descontrolada: ― Raquel! O menino, Jacob, desapareceu há duas horas! Ai, meu Deus!
Raquel, a mãe de Jacob, deixou as pastas caírem das mãos, as partituras voando como pássaros perdidos. Paralisou no choque da notícia. Por um momento, ela esqueceu a guerra, esqueceu as ameaças, e seu rosto se contorceu de dor. Era como se uma parte dela tivesse sido arrancada. Tamanha era a colisão que nem mesmo teve o ímpeto de gritar pelo filho. Três professoras tentaram segurá-la, impedindo que Raquel se jogasse contra os arames eletrificados, o que já havia se tornado comum entre as mães do campo polonês. O grito que saiu dela era mais do que um som; era uma canção de lamento, semelhante a um ritual; uma canção que somente uma mãe consegue compreender.
Assim foi o nosso natal. O caos tomou conta. As luzes piscavam e ouvimos tiros secos das pistolas dos soldados bêbados e gritos de qualquer lugar num apagão. Eu me abaixei, tentando me proteger. No meio da confusão, vi algo que nunca esquecerei: um boneco com costuras mal fechadas que escorria sangue, movendo-se como se estivesse vivo. Sua pele era pálida em algumas partes, escura em outras, e como todos nós, não tinha cabelos. Faltavam-lhe alguns dedos, andava muito lento grotescamente, e no lugar dos seus olhos havia dois buracos negros sem fim, onde se podia ver o vazio de um corpo oco; que a alma lhe fora arrancada.
Perdi o equilíbrio e caí sentado, rastejando de costas até encontrar uma parede que tinha uma raposinha marrom que meu amigo, Jacob, havia desenhado. O boneco, ou o que quer que fosse, se aproximou de mim com suspiros pesados de dor. Parecia ter vindo do mundo dos mortos. Tentei gritar, mas minha voz estava presa na garganta. O cheiro de carniça que emanava das suas feridas se juntou ao meu terror e engasguei vomitando a pouca comida que me sustentava. O tumulto era enorme e meus gritos de socorro não eram atendidos. Ele tocou meu rosto, apalpando meu corpo como se estivesse tentando me reconhecer. Seus dedos, úmidos de sangue, passaram pelas minhas pálpebras, como se quisesse roubar meus olhos.
― Matheus? ― O boneco murmurou com seus lábios petrificados, roxos e desidratados, com a voz falha e rouca, que mais parecia um rosnado.
Reconheci a voz, e não era de uma criatura do mal. ― Jacob? ― Perguntei, a voz trêmula.
O boneco, que antes era meu amigo, caiu sem vida em meus braços. Raquel, vendo o que aconteceu, correu até nós e arrancou Jacob dos meus braços. Sem intervalo, o pressionou contra seu corpo como se quisesse devolvê-lo ao útero. Balançando-o em um ritmo de desespero, estava inquieta e fazia uma dança de lamentação com um uivo de agonia, querendo trazê-lo de volta à vida. Era nítido que, se fosse possível, Raquel trocaria de lugar com o filho. Naquele momento, percebi que, mesmo morto, Jacob encontrou paz no colo da mãe, uma última vez.
Tentei me levantar, mas o trauma era demais para mim. A dor explodiu em minha cabeça, e o mundo girou, embaçou e caí. Quando abri os olhos novamente, tudo estava escuro. Meu crânio doía muito, e minha face parecia que ia quebrar. Algo estava faltando. Berrei de dor! No grito, minha boca foi fechada por uma mordaça. Uma voz calma, quase gentil, falou comigo:
― Matheus, acalme-se. Sou médico e cuidarei de você. — Ele me liberou da mordaça por um instante.
― O que está acontecendo comigo? Estou com medo ― disse, soluçando.
― Seus olhos… já não estão sangrando mais, disse ele, como se observasse uma obra de arte incompleta. Não vi nada, mas pude sentir o cheiro do seu mau hálito. ― Já pensou em ter olhos azuis?
― Por favor, me ajude! Onde está minha mãe?
― Ela já volta ― respondeu o médico.
― O que fizeram comigo? Minha cabeça dói muito…
― Acalme-se. Prometo que essa dor passará. Tente descansar.
― Espera! Aonde você vai? ― Perguntei, o pânico tomando conta de mim. ― Estou cego!
― Não se preocupe… ― Disse distante.
― Por favor, o doutor pode chamar a minha professora Raquel?
― Raquel, não pode agora. Estão desenroscando-a dos arames eletrificados ― disse ele, sem compaixão. Eu sabia o que aquilo significava.
― Mãe!!! Por favor, alguém me ajude! ― Gritei, em puro desespero, perguntei novamente: ― Quem é você?
Senti uma corrente de ar forte e, logo depois, a pressão da mordaça se intensificou, me forçando a ficar em silêncio. Não me disse seu nome, mas fez questão de reafirmar que era um médico do exército alemão. Com muito orgulho, como se cada uma das medalhas penduradas no uniforme estivesse soletrando suas obras, obras de um médico indigno. A última coisa que ouvi antes de tudo escurecer de novo foi a voz calma do médico:
― Sou um anjo…
O Anjo da Morte.
Por JONATHAS NOVAES