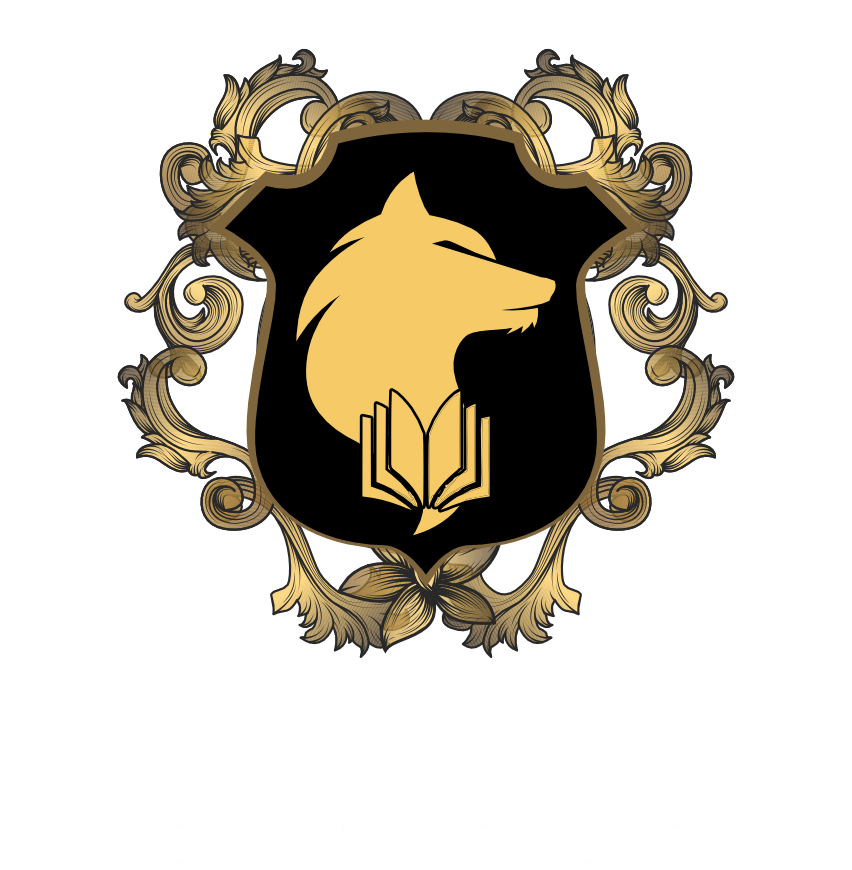O livro era um antigo manuscrito, uma longa faixa de folhas de pergaminho, coladas e roladas em um núcleo cilíndrico de madeira preta. Estava colocado no armário ao lado do corredor da sacristia. Uma vez o antigo pároco tentou pegá-lo para ver o que era. Uma avalanche de poeira caiu sobre ele, afogando-o em uma tarde interminável de tosse, e obrigou o empregado a limpar o corredor. O rolo impressionante ficou ali, como se nada tivesse acontecido. Eu tinha dez anos, assistia a essa igreja e sonhava um dia escrever sua história.
Um dia, eu voltei e me lembrei daquele livro. O pergaminho ainda estava lá, empoeirado e esquecido, na parte superior do armário. Obtive a permissão do novo pastor para cuidar do manuscrito, desde que não saísse do arquivo da paróquia. O índice elencava umas centenas de confissões e processos de bruxas e bruxos.
O trabalho me deixava pouco tempo, então eu tinha que me dedicar ao estudo do volume nas horas da noite. Longos velares da noite, em silêncio. Com a luz concentrada na página, sentava-me à mesa para viajar no tempo, quinhentos anos antes. Surgia a vida das mulheres pobres com problemas de solidão, ou de mágicos que praticavam a arte eterna de plagiar inocentes inseguros, para ter pelo menos um pouco de dinheiro ou de poder. Um poder sempre em risco, no entanto. Poderia facilmente apostar que desses personagens, cujo nome aparecia no livro, ninguém fosse capaz de terminar seus dias em paz, na cama em sua casa. Após as primeiras páginas, me acostumei com a caligrafia, as abreviaturas, os mimos. O manuscrito continha uma lista de pessoas punidas, com crimes e pecados, reais ou imaginários. Falhas pequenas, comportamentos anormais ou defeitos físicos menores. Um velho coxo, um jovem rapaz que sofria de gagueira ou nascido com lábio leporino, eram consideradas com uma atenção que para nós, leitores modernos, aparece mórbida e pedante.
Noutros casos, porém, as histórias se tornavam tão animadas e vivas, para transformar os trabalhos de minha pesquisa em um agradável passatempo. Os nomes tornavam-se pessoas vivas, ao meu redor. Eu podia ver a velha Jerônima, que sofria de ciática e artrite, que morava em uma barraca velha insalubre, com um corvo e dois gatos pretos.
Um dia, a Jerônima encontra na mata uma menina que “andava sem deixar rastros, sem sequer tocar o chão com os pés”. Um ser vago, pálido, evanescente, tão minuto que ela podia ver através. A criança não fala, nem mesmo pronuncia um som. – Deus me livre! – Eu acho. – Faltaria que falasse, essa visão de uma mulher desnutrida, que vai pelos campos para colher ervas! Qualquer médico teria receitado a mulher para comer, ficar quente e descansar, e em vez o inquisidor insistia para que ela descrevesse a visão. – A cor dos olhos: eram amarelos ou azuis, celestes? Qual vestido tinha? Seu cabelo estava para baixo, ou em um coque? A Jerônima estava confusa, mas algo terá mesmo respondido.
Se Jerônima tivesse sido uma mulher piedosa, trancada na cela de um convento e dedicada aos sacramentos, ou uma pastora vivendo em uma época de conflitos sociais, a sua visão teria sido classificada como “celestial”, e a gente iria iniciar uma causa de beatificação, mas uma mulher desamparada que vê fantasmas no mato, em uma terra controlada pelo imperador católico, o que poderia esperar? O pelourinho, a tortura, talvez o fogo… Naquela época, a pobre mulher foi poupada. O atento reitor carmelita notou que ela foi severamente repreendida, foi abençoada com um exorcismo e despachada para casa.
Uma noite, eu estava completamente absorvido pela leitura. Levei um tiro de sono, perdi a noção do tempo. Lembro-me que estava na igreja e já era a hora das orações da manhã. A partir de uma porta lateral, entrou uma mulher pequena. Devia ter setenta anos, estava coberta com roupas de estilo obsoleto e meias grossas de lã preta. Olhou para mim e deu uma volta, murmurando orações e acendendo umas velas. Caminhou até a saída. Não sei por que, eu a segui, na rua coberta de neve. Não havia veículos, ninguém tinha tomado medidas para limpar as ruas. Apenas um pequeno espaço ao longo dos muros era viável. Percebi que as ruas, as casas, não eram as mesmas que eu conhecia, embora fosse um ambiente familiar. Estava intimamente consciente que fosse o mundo da minha leitura, a minha própria cidade, como era nos séculos passados. Sabia que a mulher sentia a minha presença atrás dela, mas nunca se virou para olhar. Andamos por ruas e becos, até seu casebre. Um corvo pulava frente à porta, recebendo todos os que chegavam. Quando me disse: – Bom dia, senhor! – a velha se virou e me fez sinal para entrar. Ela tinha um gato, é claro, um gato preto. Era uma mulher de fazer agradável. Conversamos por um longo tempo e bebemos alguns copos de vinho. Um vinho azedo, sem corte, com um gosto que eu não podia sentir desde um longo tempo.
A velha era uma especialista em poções, sabia fazer caldos e decoctos saborosos e tônicos. Fiquei conversando com ela dez minutos, uma hora ou o dia todo. Tinha perdido toda a noção do tempo. Ela tinha conhecido a Jerônima e sabia tudo, ou quase, sobre a aparição dela. Descreveu a figura diáfana da menina, que parecia uma neta da mulher, morta em uma idade precoce. Ela se ofereceu para me acompanhar no campo, no lugar da aparição. Não era fácil caminhar na neve espessa, derretida pelo sol na superfície e, em seguida, endurecida pela noite fria. Eu tinha os pés molhados e sofria o frio penetrante. De repente, para além de uma vala, vi um redemoinho assumindo as formas de uma menina etérea, delgada, friorenta, vestida com uma camisa branca, um arco cor-de-rosa em seu cabelo longo, pés nus fora da terra. Fiquei imóvel, paralisado de surpresa. Quando me virei para falar, a velha mulher tinha desaparecido.
O remoinho foi girando para mim, como a querer investir-me… mas pronto desapareceu como a chama de uma vela. A criança desapareceu também. Uma pena, o suspiro de uma andorinha ou uma palha, volteava no ar. Era uma pequena fita cor-de-rosa pálida. Agarrei-a. Fiquei sozinho na extensão ilimitada de neve. Distante, via em um lado a floresta e em outro as muralhas e os telhados da cidade, as torres e mil chaminés fumando contra a luz, no pôr do sol.
Encontrou-me o empregado da paróquia, na manhã seguinte. Eu estava imerso em um sono profundo, a cabeça apoiada sobre a mesa. Meus pés estavam secos, nenhum traço de uma constipação ou de outra doença. A fita cor-de-rosa, molhada e descolorida, estava encostada no livro aberto, no ponto onde descrevia-se a visão da Jerônima.
Por ALBERTO ARECCHI