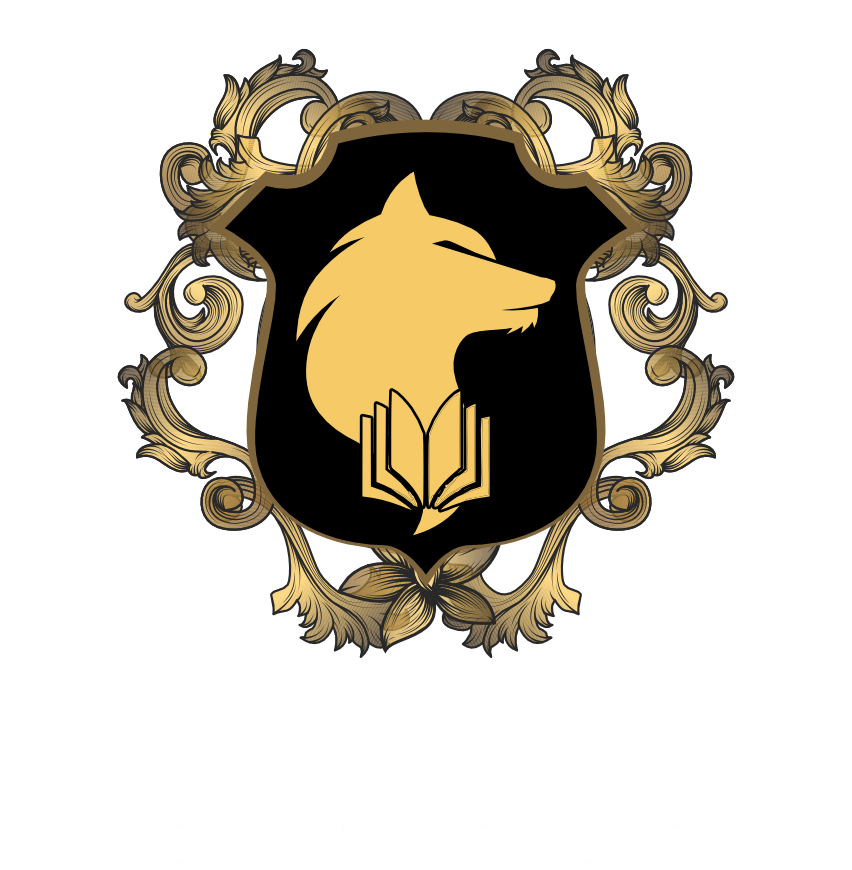À minha amiga Maria de Fátima, por me ensinar que, na vida, tudo é impermanência.
Hoje eu passei em frente à minha antiga casa. Saí mais cedo para o trabalho e fui dirigindo por um trajeto que eu decididamente evitava. Fui impelido por uma força magnética que me levava resoluto até lá: a frente, a fachada, a entrada. Desci do carro. Depois de dois anos, o portão de alumínio branco continuava empoeirado, a tinta das paredes era a mesma, com a mesmas descamações, e o mato crescia onde sempre cresceu, na lateral esquerda da rampa da calçada.
Além da casa, o bairro permanecia estável. Lembrava de tudo, da vizinha sentada na cadeira de balanço que acenava com a mão, dos vários gatos de rua que dormiam preguiçosos nas sombras das árvores, do barzinho sempre movimentado, mesmo pela manhã. Apenas poucas casas foram pintadas nesse período e algumas árvores podadas. As coisas em uma ruazinha de uma cidade do interior não mudam tão rápido assim, não como mudaram em mim.
Apesar de tudo ser tão familiar, não reconheci o homem que chegava à casa onde morei durante anos. Sabia que o tinha amado, mas as recordações eram confusas, incertas. Era um rosto diferente, com uma barba azulando o maxilar quadrado, de ar mais grave e de cabelos curtos agora. Magro, eu julgo. Acredito que ele também soubesse que havia me amado, mas também não lembrava de mim, pelo olhar duvidoso com que me encarou, desviando logo em seguida, incerto na sua própria certeza. Correu o portão e entrou na casa. Tive um vislumbre rápido do interior: o sofá de couro sintético preto continuava no mesmo local da sala, a mesa de jantar permanecia encostada no balcão, com as três de quatro cadeiras dispostas ao redor, a porta do quintal sempre aberta, principalmente nos quentes meses de verão. Foi só um vislumbre.
O portão de correr foi fechado rapidamente. Ouvi o barulho da chave sendo girada e trancando-o. Ali, depois de tudo que acontecera, depois de todos os anos, eu era o invasor, não era mais bem-vindo.
Fiquei encarando o número da casa, 276. Foi a última coisa que eu olhei quando saí em definitivo. Chovia e eu chorava. Tudo já estava no carro e eu fixava o olhar no número borrado pela chuva e pelas lágrimas. Prometi que nunca mais voltaria àquele lugar. Enganei-me, queria enganar-me. Voltei. O número estava nítido agora, “duzentos e setenta e seis…”. Talvez nem fosse o número que estivesse explícito, quase que polido, talvez fosse o meu olhar, depois de inúmeras chuvas e choros durante todos esses anos.
Quis dar um passo, subir a rampa da entrada, mas não ousei. Fiquei ali mesmo, na rua, encarando o portão da casa. A vizinha, que ora estava sentada, veio se aproximando com os braços estendidos para um abraço carinhoso, mas cheio de curiosidade. Abracei. Abri um sorriso sincero, o mais sincero que pude.
Ela me analisou rápido com os olhos e então me disse:
– Quanto tempo, meu filho! Ficou com saudade? Veio ver como está a casa?
Eu, com sinceridade, respondi:
– Tempos bons, Dona Jandira. Tempos idos.
E de fato foram mesmo. Vivi momentos inesquecíveis naquela casa: jantares, comemorações, descansos, aconchegos, volúpias. Eu me peguei lembrando do dia em que cheguei: empurrei o portão e vi os cômodos ainda sujos e desarrumados pela mudança. As várias caixas de papelão ainda fechadas e espalhadas pelo chão. Olhei demoradamente cada quarto imaginando a organização dos móveis e a posição das decorações. De tão concentrado que estava, me assustei quando a mão forte dele, que hoje é tão estranho, tão incerto para mim, tocou o meu ombro e, me puxando para perto, disse: “Havemos de ser muito felizes aqui”. E percebo hoje que fomos, mas felicidade nenhuma deve custar o preço da liberdade. Até porque, por mais confortável que seja, uma gaiola sempre será uma gaiola para uma ave que anseia alçar voo.
Ela sorriu satisfeita e continuou:
– Você tá mudado, tá mais novo, mais forte. Eu continuo a mesma, boa e gorda.
Acredito que tenham sido as várias sessões de terapia, pois eu respondi com muita segurança:
– A mudança acontece quando saímos de dentro de nós mesmos, Dona Jandira.
Ela sorriu ainda mais satisfeita e concordou.
Abracei-a novamente e me despedi. Não jurei que não voltaria mais ali de novo, até porque não sei quantas vezes precisarei voltar para perceber o quão longe eu já fui.
Por ANDERSON SILVA