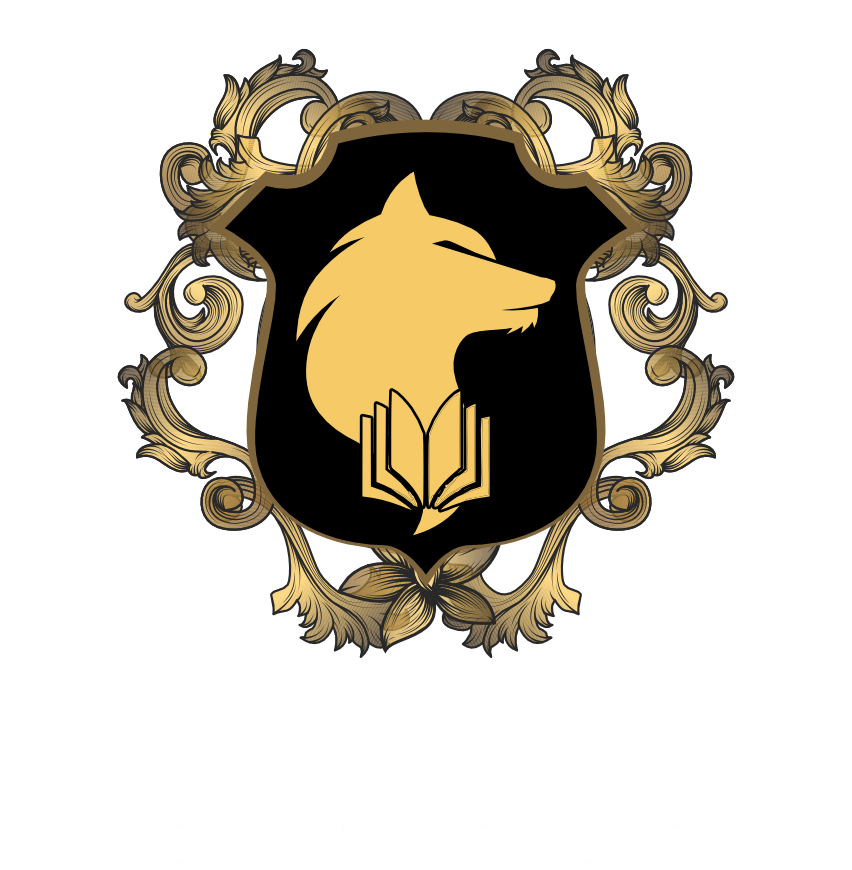Minha experiência com literatura africana é tardia. Fui conhecer alguns de seus autores e principalmente autoras quando já na universidade. Antes disso, na escola ou em casa, de estrangeiros lia nomes das Américas ou da Europa. Sinto que esse era um reflexo não só das minhas influências literárias diretas (mãe e professores), mas também do cenário editorial e acadêmico brasileiro, que não comprava, traduzia e debatia livros africanos como hoje.
No curso de Letras, há mais de duas décadas, meu repertório expandiu-se, evidentemente. Ali soube da existência de especialistas exclusivos nessa tradição. Ainda assim, curiosamente, inaugurei minha vivência na literatura africana por intermédio de um olhar europeu, o que nesse contexto imediatamente significa colonizador. Em minhas leituras dos ensaios e artigos de imprensa de Italo Calvino descobri mais da cultura oral e do patrimônio das fábulas, não só africanas, mas também. Um italiano, vejam só, foi quem de modo mais detido me inseriu numa África da sabedoria popular, dos sabores dialetais, da rusticidade narrativa. E é essa a África mais genuína que até hoje devemos urgentemente conhecer e reconhecer.
As mídias sociais, dentre outras coisas, se prestam muito a reproduzir citações literárias com referências mínimas às fontes. Quase diariamente leio “provérbios africanos” sem nunca ter a certeza de que realmente o sejam (o que me angustia). Como respeito muitíssimo o trabalho arqueológico daqueles que por anos se empenham em localizar as narrativas genuínas de um povo, assegurando origens, intertextualidades e etimologias, ainda por influência do projeto de Calvino com as fábulas populares de seu país, incomoda-me a irresponsabilidade de atribuir apressadamente uma autoria a meia dúzia de palavras entre aspas como muitos fazem nas redes sociais digitais.

Imagem IA por Freepik
Ganhamos mais se nos valemos de uma coletânea de achados com fundamentação histórica e bibliométrica, que realmente nos permita conhecer a cultura e a identidade desse continente tão gigante e diversificado, cuja história repleta de dores, conflitos, costumes, idiomas, peculiaridades determina os provérbios e as fábulas de muitos séculos atrás bem como os títulos modernos ganhadores do Prêmio Nobel de Literatura.
Aliás, já era o momento de citá-los. Wole Soyinka foi o primeiro africano a receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1986. Dramaturgo, poeta e ensaísta nigeriano, Soyinka enfrentou temas de opressão, injustiça e corrupção política em suas obras, como na peça “A Dança da Floresta” (A Dance of the Forest) e em “O Leão e a Joia” (The Lion and the Jewel). Ambos os títulos me arremessam inevitavelmente para o universo dos contos e histórias populares, pelo cenário e pelos animais simbólicos.

Imagem “Wole Soyinka” por Jornal Grande Bahia
Durante a guerra civil de Biafra, foi preso por 22 meses quando apelou por um cessar-fogo. Em sua solitária escreveu “O homem morreu: notas da prisão de Wole Soyinka” (The Man Died: Prison Notes of Wole Soyinka) em rolos de papel higiênico. Lamentável, mas muito curioso o fato de um autor tão relevante no cenário revolucionário como ele redigir sua autobiografia dessa maneira e nessas condições.
Depois de Soyinka, foram premiados o egípcio Naguib Mahfuz, em 1988; os sul-africanos Nadine Gordimer, em 1991, e John Maxwell Coetzee, em 2003; e mais recentemente, em 2021, Abdulrazak Gurnah, voltando-se assim a condecorar com o Nobel um autor da África Negra (todos os outros eram brancos). A relevância de sua obra está, à semelhança da de seu precursor, na capacidade de expor realidades complexas de uma parte da África marcada por colonialismos, tráfico de escravizados e dificuldade de superar tal legado. Seu romance mais recente é “Sobrevidas” (Afterlives, sob tradução de Caetano Galindo pela Companhia das Letras).
Na minha percepção, porém, mais importante do que tais premiações – que já são um passo rumo ao reconhecimento de nações e comunidades que desde sempre precisam, antes de qualquer coisa, provar que existem, mostrar quem são e exigir o mesmo espaço que o das sociedades colonizadoras centrais – é a presença africana nas vitrinas nas livrarias, nos materiais didáticos, nos cursos acadêmicos, nos debates formais e informais, nos palcos de visibilidade, inclusive no Brasil. E mais importante ainda, a movimentação de autoras africanas por muitos países que têm em seu DNA fortes traços desse continente, insuficientes, todavia, para subsumir com um cruel racismo estrutural, como o nosso.
Peço licença para destacar aqui, caros leitores, dois nomes. O da escritora franco-ruandesa Scholastique Mukasonga, que realça o embate entre as tradições culturais preservadas pela mãe e a Bíblia lida pelo pai todas as noites para os filhos antes de dormir, em “Kibogo subiu ao céu” (Kibogo climbed to the sky, já traduzido por Larissa Esperança pela editora Nós). O Kibogo do título é nome de um príncipe que teria se sacrificado para trazer de volta a chuva a Ruanda, assolado por um período difícil de extrema fome na década de 1940.

Imagem de “Scholastique Mukasonga” por DCM
Mukasonga evidencia o quanto a leitura catolicista dessa carestia tornou-se arma colonialista. A autora não só marcou presença na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) em 2017, como teve dois títulos seus dentre os mais vendidos do evento, e retornou em outras ocasiões ao Brasil, inclusive neste ano, em Bienais do Livro e unidades do Sesc, para fazer ouvir a sua voz.
Chimamanda Ngozi Adichie nasceu na Nigéria e, aos dezenove anos, mudou-se para os Estados Unidos, onde se formou em comunicação e ciências políticas, prosseguindo até o mestrado de artes em estudos africanos. É autora dos romances “Hibisco roxo” (Purple Hibiscus), “Meio sol amarelo” (Half of a Yellow Sun) e “Americanah” (idem) publicados no Brasil. Além deles, aqui e em outros países ficaram também conhecidos seu livro de contos, “No seu pescoço” (The Thing Around Your Neck), e suas conferências do TED: “Sejamos todos feministas”, “Para educar crianças feministas” e “O perigo de uma história única”, escritas e proferidas de 2009 para cá.
Adichie conseguiu a proeza de conquistar muita proeminência sendo uma mulher negra ainda jovem num mundo que mais radicalmente asfixia esse perfil em particular. Tem sido vista e ouvida em círculos políticos, midiáticos e acadêmicos, o que muito deveria nos orgulhar, principalmente a nós, mulheres.
Termino minha reflexão como tradicionalmente faço na The Bard: com um nome da literatura infanto-juvenil africana, porque acredito muito no papel transformador das histórias para esse público. Nokugcina Elsie Mhlophe, ou simplesmente Gcina Mhlophe, é uma ativista antiapartheid sul-africana, atriz, contadora de histórias, poetisa, dramaturga, diretora e autora. Uma das poucas mulheres contadoras de histórias em um país até hoje dominado por homens, faz seu trabalho por meio de performances carismáticas, com o intuito de preservar a narrativa como um meio de manter a história viva e incentivar as crianças sul-africanas a ler.
Conta suas histórias em quatro línguas da África do Sul: inglês, africâner, zulu e xhosa, o que merece destaque aqui, já que os demais autores que recordei publicaram seus livros em inglês, o que facilitou a visibilidade mundial que alcançaram. As histórias de Mhlophe misturam folclore, assuntos atuais, música e idioma, a fim de desenvolver jovens talentos para levar adiante o trabalho de contar histórias por meio da Iniciativa Zanendaba (“traga-me uma história”, criada em 2002 em colaboração com o Market Theatre e uma organização nacional de alfabetização).

Imagem IA por Freepik
Meu desejo é de que meu filho e tantas outras crianças possam usufruir da literatura africana bem mais cedo do que eu, vendo nela toda a riqueza e potência que tem e que por tanto tempo tentaram calar.
Até a próxima!
Por VANINA SIGRIST