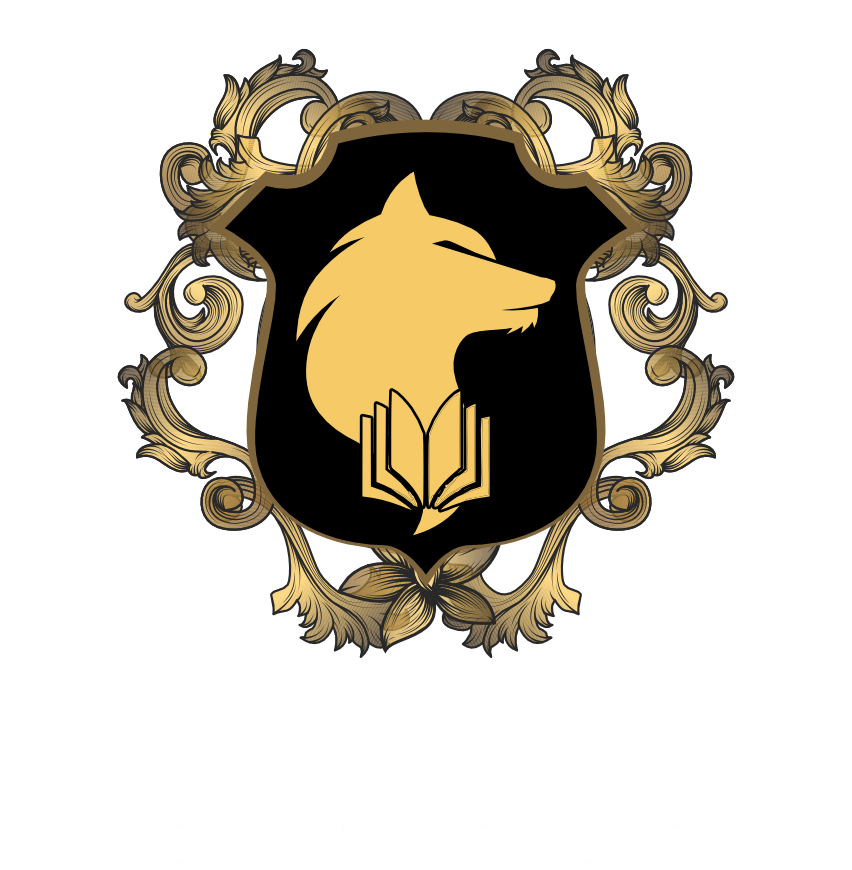Estou há algumas semanas olhando para a mesma página em branco deste arquivo. Entre levar o computador para a sala, quarto, trabalho, trocar de roupa, música e posição na cadeira, acredito que finalmente estou pronta para escrever. Passados dias calculando, reformulando e (re)analisando qual a direção que deveria colocar nessas linhas, percebi que, novamente, estava me coagindo a fechar janelas e pôr em caixas algo que, em essência, é fluidez e ar. Então, cá estou, sentada na cama, com Vanesa Alborán no fone de ouvido e pronta para a viagem. Não me leve a mal, é que falar de amor sempre mexe com partes esquecidas do meu interior.
Essa coluna na verdade levará meu nome, mas, será inspirada em diversas histórias que chegaram até mim, além das minhas próprias narrativas. Então, duas mãos digitam nesse teclado ordinário, no entanto, mais de trinta ajudaram a conduzir minha inspiração (inclusive obrigada a cada um que se predispôs a contar um pouco de si).
Falar de amor é lindo, mas não significa que seja uma tarefa fácil. Têm pessoas que passam toda uma vida e jamais fazem uma reflexão sincera sobre esse sentimento, justamente por ser difícil encontrar definições ajustadas. Quem nunca assistiu a um filme clichê de comédia romântica e se questionou: o que falta em mim? Quando chegará a minha vez? Será que isso existe mesmo? Consigo colecionar na memória a quantidade de vezes que me questionei isso, que vi amigos falando sobre ou que escutei de desconhecidos. Sinto muito para os românticos de plantão, mas essa coluna falará de amor sob outro viés: sim, eu estou falando do amor-próprio.
A primeira vez que realmente parei de forma honesta e racional para refletir sobre o amor tinha dezesseis anos. Nesse período já me considerava uma romântica nata, escrevia poemas e canções para os meninos que achava amar e, com certa constância, questionava-me o porquê das minhas demonstrações não serem suficientes, por que eu não era suficientemente bonita, magra, engraçada etc. Coincidência ou não, chegou até mim ainda nessa idade um dos episódios da série My mad fat diary em que a protagonista Rae e o Dr. Kester conversam justamente sobre autoamor. A série em sua completude me fez refletir sobre o poder que damos aos outros de nos definir e justificar porque não merecemos esse sentimento- e para que fique claro: sim, merecemos! Enquanto escritora, acredito que damos ao outro a caneta para escrever quem somos, o que devemos fazer e aonde ir. Isso é quase atribuir a alguém uma alta capacidade das obras de ficção, não é?
Enquanto mulher gorda lembro da quantidade de vezes que escutei “te assumo se você emagrecer”, “eu estou com ela, mas gosto de passar o tempo com você”. Lembro das vezes que ouvi que deveria fazer sexo mesmo sem vontade para garantir a estabilidade da relação, da quantidade de fórmulas mágicas que me passaram (de remédios, chás e como me vestir ou me portar) para ser, por consequência mais atraente e/ou digna de ser vista. A verdade é: eu não me amava. E, justamente por não encontrar o amor dentro de mim, abraçava todos os pseudo-amores que via pela frente – alguns lobos vestidos de cordeiros e outros lobos orgulhosamente assumidos.
Fiz as seguintes perguntas sobre o tema nas redes sociais: você considera que se ama? Se sim, consegue identificar o caminho que te levou a esse autoamor? Se não, o que te impede? Escutei de tudo. Mas, algo que foi consenso entre as respostas positivas foi: se amar é um processo diário e ininterrupto. É acolher a si mesmo para entender que só assim podemos acolher o outro. É berço que inspira desde cedo através daqueles que admiramos e nos admiram. É dança nas dores e tempestades. É devolver o valor para si mesmo, sem esperar que o outro faça isso. Acima de tudo: amor é ação! E como toda ação, exige movimentos e decisões.
E… o que impede essa ação? Também foi consenso nas respostas negativas que os fatores sociais, familiares, o olhar do outro sobre nós, a autocobrança que faz com que nos comparemos sempre com o outro, influenciam no truncamento do amar. Nesse caso, inclusive, ficou evidente que não importa o peso na balança, o emprego dos sonhos, um milhão de pessoas que te veem a partir de sua essência se, simplesmente, nós mesmos não soubermos nos amar.
Com a quantidade de mágoas, violências e traumas sofridos por não me amar cheguei ao ponto mais grave na vida, que foi o de me questionar: as pessoas serão capazes de me amar mesmo estando tão ferida? E o pior, não acreditar no amor do outro, desconfiando de tudo que chegava até mim. Com algumas escoriações ainda abertas, caminhei tal qual a Cínthia de oito anos que escrevera no seu diário que era uma baleia assassina e que, por isso, não merecia ser amada. Reconheci-me pequena, abracei meu eu-infantil e engatinhei em direção à terapia. Ali descobri que estava fazendo a pergunta errada. Nunca foi sobre o outro ser ou não capaz de me amar. A pergunta correta seria: Eu sou capaz de me amar mesmo com minhas feridas?
Quando descobri o amor em mim, vi que o corpo que me veste é sim potente, mas, ele é um fator supérfluo quando comparado a todas as minúcias do que me compõe. Fez parte do meu amor identificar que não é porque o rio bate nas pedras que ele para de fluir. Por isso amor é processo, monta-russa que nem sempre terá impulso para subir. No entanto, reafirmo: não é fácil. Sobretudo quando você é uma pessoa gorda ou preta ou lgbtqiap+ ou com deficiência ou tudo isso junto. Conversando com minha menina de oito anos, percebi que errado não era demonstrar o amor como eu quisesse. Errado foi não ter dado amor para mim, em primeiro lugar.
Amor é possibilidade em mil facetas. Impossível é dá-lo sem, antes, conhecê-lo. Termino as últimas letras dessa crônica ainda inebriada pelo som de Vanesa Martín…
Soy libre para amar a quien mi cuerpo diga sí
Me miro en el espejo, yo soy esa mujer
que ahora grita su verdad.
Por CÍNTHIA FRAGOSO