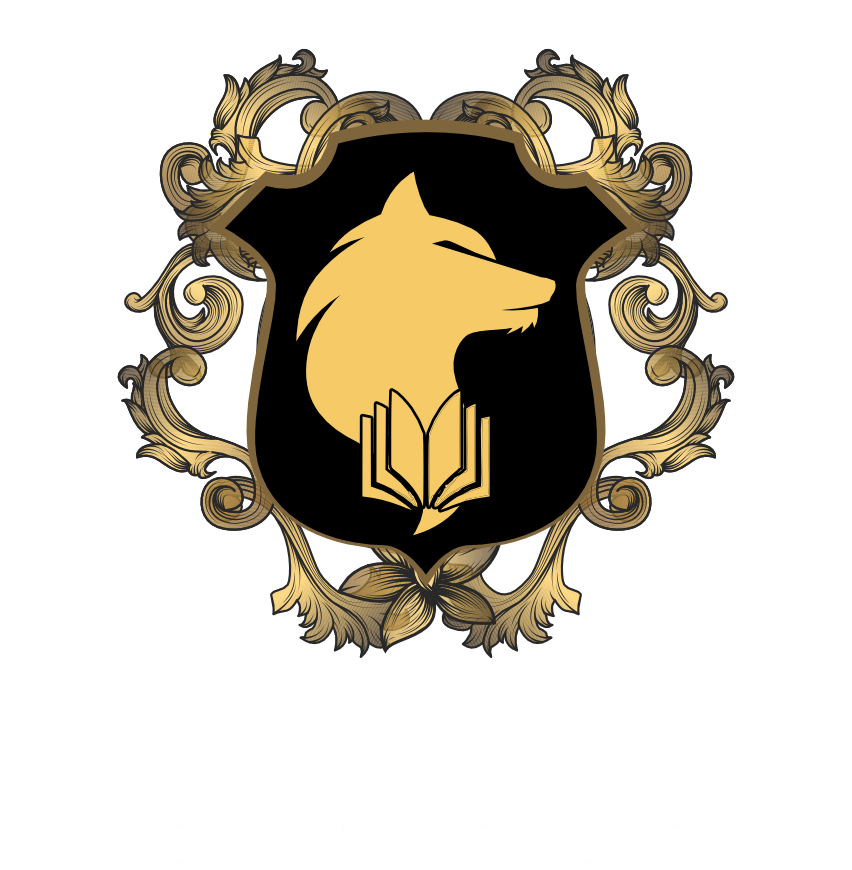Outra vez, o canto do pássaro me desperta – o som mais lindo, mais melódico, mais triste que já ouvi um animal emitir. Deitado na cama, volto o olhar para a janela. É sempre a essa hora que começa. A manhã jovem, o céu arroxeado, o prisioneiro saudando os primeiros raios da aurora com sua apresentação solitária.
Enquanto admiro sua música, analiso-a. Fatio-a em partes – como faço, instintivamente, com qualquer música que escuto. Não é um canto comum de pássaro. Duas ou três notas repetidas sempre da mesma forma, a assinatura daquela espécie. É uma melodia complexa e apaixonada. Um concerto de um único e peculiar instrumento de sopro.
Jogo o cobertor para o lado com um safanão e levanto. Já perdi o sono. Cruzo a casa sem acender as luzes. Na cozinha, ponho água para ferver. Abro a janela. Dali, posso ver a casa ao lado da minha, para onde um novo e detestável vizinho se mudou há uma semana. A gaiola está pendurada na parede, do lado de fora, o pássaro azul cantando maravilhosamente. Fico ali, braços cruzados, o primeiro cigarro do dia nos dedos, soltando fumaça entre lábios apertados. Por que é que o homem, ao tomar contato com o belo, sente o desejo de aprisiona-lo?
A porta da casa se abre e o velho sai, outra gaiola nas mãos. Passo lento e cansado, vai andando ao longo da casa. Trago forte o cigarro, intrigado. Assisto-o pendurar a outra gaiola na parede, a uns quatro metros de distância da outra. Há outro pássaro azul nela, mas esse não canta.
Saio da janela, passo um café, pego um de meus três violões. Raramente toco bem de manhã, sem aquecer, mas hoje é um desses dias. Os acordes vêm fáceis, meus dedos passeiam pelas cordas, fluidos. Sempre toco melhor quando estou triste ou irritado. Estou os dois.
Por que o mundo odeia os artistas?
***
— Minha última casa – diz o velho, sem que eu nada tenha lhe perguntado – ficava perto de uma mata.
Estou em meu quintal e ele no dele, separados pelo muro de um metro de altura que divide os dois terrenos. Eu estava recolhendo roupas no varal, quando ele me chamou e começou a falar. Ele tem dentes tortos, encardidos, e um mau hálito que parece subir das profundezas do estômago.
— Todo dia – aponta para a gaiola do pássaro cantarolante –, eu ouvia esse canto. Todo dia, como se me provocasse. Então, procurei meu alçapão, que eu não usava desde os tempos de criança… por isso, nunca jogo nada fora, você nunca sabe quando vai precisar. Procurei vários dias pela mata, até descobrir a árvore em que ele gostava de ficar. Armei o alçapão e fui testando frutas, até descobrir de qual ele gostava. Mamão. Umas fatias de mamão docinho e ele veio direto para dentro da armadilha. Pá! – arreganha os dentes amarelados em um sorriso, claramente orgulhoso de si mesmo. – Tudo o que você precisa fazer é usar a isca certa.
Enojado, mas não consigo sair. Quero xingá-lo, mas não consigo falar. E como não digo nada, ele continua:
— Não sei se você sabe, mas é sempre o macho quem canta mais bonito. Pra atrair a fêmea, né? – Ri. – Então, depois que eu peguei, botei ele numa gaiola e continuei a levar ele pra floresta. A diferença é que, em vez de mamão, eu botava ele do lado do alçapão. Até que um dia – apontou para a outra gaiola – ela veio.
— Pá – completo, sem rir. Ele dá uma gargalhada.
— Isso! É só usar a isca certa. Quando quero que ele cante mais, coloco ela perto — reparo que as gaiolas na parede, estão separadas por apenas um metro. – Vou trazendo ela cada vez mais perto e ele canta cada vez mais. Até deixar as gaiolas encostadas.
— E?
— Deixo um tempo e sumo com ela. É quando ele canta mais bonito.
— Isso é horrível. O que será que ele pensa?
Ele encolhe os ombros.
— Que não é bom o suficiente.
— Por que não os deixa se encontrarem?
— A dor faz bem pra arte. O artista deve sofrer.
***
— É cultural – diz Ludmilla, da tela do notebook, com seu irritante tom blasé de quem já viu tudo. — Tive um tio que criava passarinhos. Muita gente da família reclamava, as crianças, principalmente. Ele não ligava, amava os passarinhos dele. Mostrava pras visitas. Minha tia morria de vergonha.
— Não é amor – resmungo para o computador em cima da mesa.
— Aí, a gente vai entrar em mais uma de nossas longuíssimas discussões sobre o que as coisas significam para cada pessoa. Tem gente que não quer que o outro saia para lugar nenhum, que não tenha amigos. Chama isso de amor – encolhe os ombros.
— Você não entende. É um canto lindo, nunca ouvi nada igual. Vou gravar, pra você escutar – sacudo a cabeça. – É um crime.
— De repente, é, se o passarinho for raro mesmo. Denuncia ele – ela está de saco cheio do assunto. Se eu insistir, arrumará uma desculpa qualquer e desligará. – Como vai o trabalho?
Respondo que vai bem e é verdade. Dou aulas de violão online. Um vídeo meu fazendo um dedilhado dificílimo viralizou, há uns meses e, desde então, meu número de alunos mais que dobrou. É impressionante essa coisa das redes sociais. Você joga uma semente e não tem ideia de onde ela vai cair. Ou o que vai brotar.
***
Da varanda, observo o velho, fingindo não observar. Estou numa cadeira, violão no colo, xícara de café ao lado, dedilhando acordes despretensiosos sob a luz dourada do fim da tarde. Em seu quintal, o velho vai daqui para lá, de lá para cá, passo lento e vacilante. Há algo de repulsivo nele que não tem a ver com idade. É fácil de imaginá-lo espreitando menininhas na saída da escola. Puxando assunto, talvez. Oferecendo coisas.
Ele retira a gaiola com o pássaro azul da parede. Pergunto-me, não pela primeira vez, se não está se vingando da vida, que o enclausurou em um corpo decrépito. Ele aproxima a gaiola do rosto e ri. Gargalha. É nesse momento que tomo minha decisão.
Por uma semana, todo meu tempo livre é dedicado a observá-lo. Da varanda, da cozinha, do quintal. Descubro que às segundas, quartas e sextas, por volta das duas, ele sai em seu carro e só retorna lá pelas quatro. É conveniente, pois a rua costuma estar vazia a essa hora.
Às vezes, ele esquece uma janela aberta.
***
É uma daquelas tardes de verão em que seria possível fritar um ovo na calçada.
Ondas de calor emanam do asfalto, criando miragens. A rua está deserta. Dentro de casa, no ar condicionado, aguardo, espiando por uma fresta na cortina da janela da sala.
Na casa ao lado, a porta abre e o velho sai. Cruza o gramado com seu passo claudicante. Chega a seu carro, estacionado em frente. Entra. Bate a porta. Liga o motor. Tudo acontece devagar. Dando-me mais tempo do que eu queria para considerar a loucura que estou prestes a fazer. O carro desce a rua e o ruído do motor diminui até desaparecer.
Olho a janela aberta na casa do velho e, súbito, sei: é agora ou nunca mais. Abro a porta e saio. O calor me atinge como uma bofetada.
Meu plano é simples, a questão é a coragem para executá-lo. Caminho até a porta do velho, nem rápido, nem devagar. Passo normal, como quem vai à casa de um vizinho.
Finjo tocar a campainha e verifico a rua uma última vez. Se alguém estiver olhando pela fresta de uma cortina – como eu, segundos atrás – eu jamais teria como saber.
Respiro fundo, vou até a janela, apoio as mãos no parapeito e, em um movimento só, pulo para dentro. A sala está na penumbra e é escassamente mobiliada – um velho sofá, um colchonete no chão, algumas roupas largadas. Estou na casa de alguém. Sou, oficialmente, um criminoso. A realização me traz um medo profundo. Boca seca, coração na garganta, olho ao redor, tentando me controlar. Vou de cômodo em cômodo, descobrindo uma casa quase vazia. Panelas sujas na cozinha. Um quarto com apenas uma mala. A estranheza aumenta meu medo, mas não faz sentido voltar daqui. Me forço a continuar, até que encontro as gaiolas, ao final de um estreito e sombrio corredor, penduradas em uma parede. Entro nele, pé ante pé. Os pássaros estão agitados.
— Calma. Vai ficar tudo bem. Já, já vocês vão cantar livres outra vez.
Seguro a gaiola por baixo, para levantá-la e, para minha surpresa, encontro-a firmemente presa, como se aparafusada. Algo estranho acontece, então. Sinto um formigar nas pontas dos dedos e, quase que simultaneamente, um gosto amargo na boca.
Minha visão se turva. Largo a gaiola e me viro para fugir. O corredor se transforma em um longo túnel negro, com luz turva no final. Dou um passo à frente, mas meus joelhos falham e desabo no chão. Minha visão escurece. Minha tentativa de grito resulta apenas em um ruído abafado.
***
Sentado à mesa, o velho come, enquanto dedilho o violão. Não sei onde estamos, mas é no subsolo. Um cômodo de dez por dez metros, de teto baixo e paredes de pedra nua. Não há muita coisa, aqui. A mesa onde o velho janta, quase todo dia, e minha jaula – um retângulo de dois por três, delimitado por barras de ferro fundido chumbadas no teto e no chão. Aqui dentro, um colchão, uma cadeira plástica, um cano no teto, de onde cai água todo dia à mesma hora, diretamente sobre um buraco que, além de ralo, é onde urino e defeco. A jaula tem uma porta, mas nunca a vi aberta. O cadeado nela é maior que meu punho. E há as câmeras. Quatro. Duas delas, apontadas diretamente para mim, seus leds vermelhos piscando, olhos que tudo veem.
Além desses objetos, só meu violão. Todo dia, quando o velho chega, a não ser que ele me diga algo em contrário, devo começar a tocar. Quando acordei na jaula, já trancafiado, em meu primeiro dia aqui, ele me explicou seus termos de forma muito pragmática – e não totalmente desprovida de prazer. Disse que estamos muito longe de minha casa, a qual jamais verei outra vez. Explicou, também, como fui parar lá. Sobre a substância entorpecente no fundo da gaiola. Sobre sua espera paciente. Sobre como, para caçar aquilo que se quer, basta usar a isca certa.
Foi pela internet que ele me encontrou. Pelo vídeo que viralizou. Ele disse que sou dono de um talento raro, daqueles que permanecem anônimos no mundo da música apenas por falta de sorte, e me quis para si. Alugou a casa vazia ao lado da minha. Ele não é fraco, nem incapaz. Seu passo é firme; seus músculos, fortes; sua mente, afiada. Sua aparente fragilidade era engodo.
Devo tocar. Até que ele me mande parar – algo que, às vezes, demora tanto a acontecer que meus dedos sangram. Se me recuso, ele torna minha vida progressivamente mais desconfortável. Comida fria. Pouca comida. Comida nenhuma. Banho frio.
Fiz greve de fome. Ele me sedou e acordei sem o dedo mínimo do meu pé esquerdo. Ele fala que não é entusiasta da tortura, mas que é da disciplina. E diz que há muito o que cortar, esmagar e queimar, sem que eu deixe de ser funcional.
É tudo verdade, então, toco.
Às vezes, ele coloca uma tela diante da jaula, ligada naqueles canais de viagens que mostram locais paradisíacos. Ou imagens das redes sociais dos amigos que nunca mais verei.
O artista, ele diz, deve sofrer.
Por Jorge Alexandre Moreira