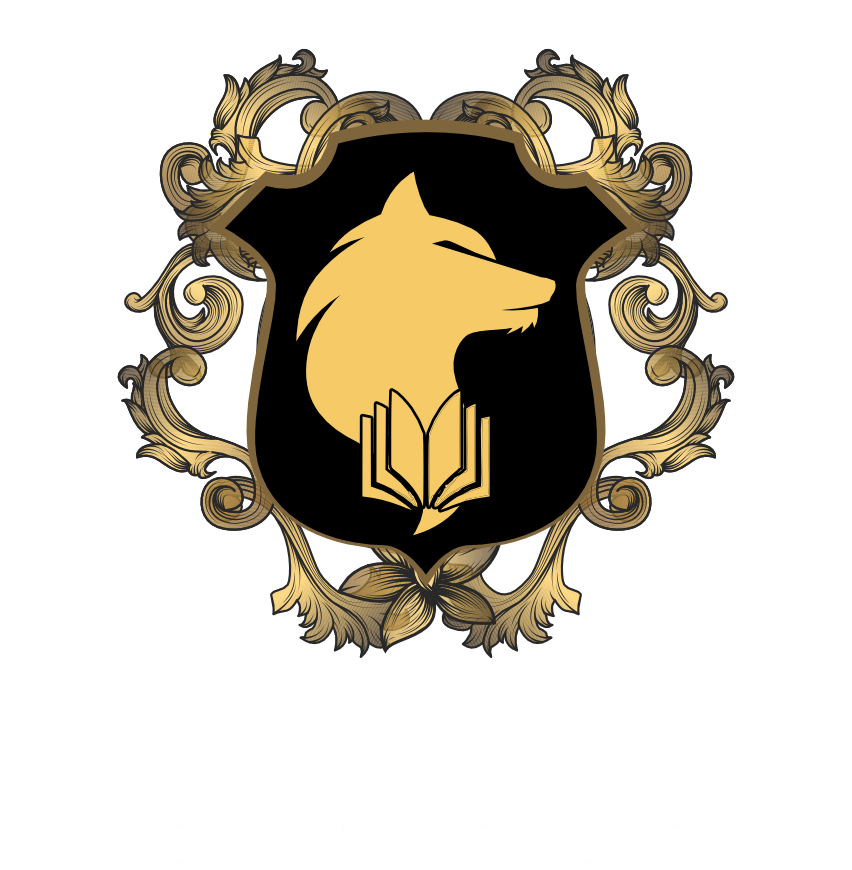Meu compromisso, no centro da cidade, era às 17h. Resolvi chegar às 16h e sentei-me num dos bancos da praça central de uma das maiores cidades do Interior do Estado de São Paulo, com 361 anos de fundação e uma população de aproximadamente 640 mil habitantes, que o tempo, a Administração Pública e os empresários e artistas transformaram-na numa bela e progressista cidade.
Com a maioria de suas ruas asfaltadas, prédios em construção pululando por todos os cantos, comércio pujante, com uma miríade de empresas e pessoas físicas prestadoras de serviços e uma significativa frota de veículos circulando diariamente, reflete bem uma cidade moderna, porém com toda sorte de problemas, incluindo a violência, sempre aumentando, como o são os grandes centros urbanos.
eu mergulhava em meus pensamentos enquanto, aparentemente ao acaso, abri em uma das páginas do livro de poemas que trouxera, a fim de aguardar o horário do meu compromisso. No alto da página, o título: “Eu Sou Aquele Menino”, do poeta brasileiro Paulo Bomfim, membro da Academia Paulista de Letras e conhecido como “O Príncipe dos Poetas Brasileiros”. Eu já o conhecia e ele se tornara um dos meus preferidos, quando então estudante do ensino médio, tive a oportunidade de assistir a uma palestra desse grande poeta.
Grato pelo “acaso”, e já um tanto quanto absorto, comecei a ler os versos, em meia voz:
“Eu sou aquele menino/ Que o tempo foi devorando,/ Travessura entardecida,/ Pés inquietos silenciando/ Na rotina dos sapatos,/ Mãos afagando lembranças,/ Olhos fitos no horizonte/ À espera de outras manhãs/…”
– Ei, moço, tá falando sozinho?
Assustado, interrompi a leitura. Um garotinho de camisa branca, short marrom e descalço, aparentando cinco anos de idade, me olhava, com uma mão segurando os dedos da outra e com uma expressão interrogativa.
– Ah, não, eu estava declamando um poema em voz alta. Apenas isso – respondi, um tanto quanto encabulado e, certamente, corado, uma vez que, em termos de comportamento, sou do tipo sanguíneo.
– Poema? O que é um poema? – mais uma vez ele me questionou.
A pergunta me pegou de surpresa. Em primeiro lugar, por ter vindo de uma criança com tão pouca idade. Depois, porque, apesar de eu ser um escritor e poeta – meu compromisso era com um novo amigo que me pedira ajuda para publicar um livro – senti-me sem didática suficiente para explicar algo que, para mim, era tão simples.
– Poema é um… é um…. Travei! De repente, olhando para dentro de mim mesmo parecia que toda a teoria desse gênero literário sumira da minha memória, apesar de tão bem guardada que estava (assim eu pensava) no meu cérebro, na gaveta “Poemas”.
“E agora, José?” – pensei rapidamente com meus botões, lembrando o famoso poema do inesquecível poeta mineiro Drummond de Andrade.
Ainda imerso em pensamentos confusos, e sem a resposta esperada, quase que respondi a ele, como respondeu Drummond, no mesmo poema: “… A festa acabou/ a luz apagou,/ o povo sumiu,/ a noite esfriou…”.
Na verdade, em me sentindo o mesmo José de Drummond, percebi que aquele garotinho tinha-me colocado contra a parede. E, de repente, não mais que de repente (Drummond, sempre Drummond…), essa sensação me trouxe certa irritação, pois, afinal de contas, aquele filhote de homem colocara em xeque um adulto estudado, um escritor, um intelectual, e a primeira vontade que tive foi de mandar aquele pingo de gente procurar seus pais. “Aliás, onde estavam os pais dele?” – perguntei a mim mesmo.
Antes de responder a ele, perguntei-lhe:
– Como é o seu nome, meu filho?
– Tato! – ele respondeu com certo orgulho no olhar.
– Tato?! – exclamei, agradavelmente surpreso, pois esse também era o meu apelido de infância. E, a partir daquele momento, senti um carinho e admiração especiais por aquele menino questionador.
– Quantos anos você tem, meu jovem curioso?
Ele me apontou uma das mãos aberta e respondeu:
– Assim, ó!
Entendi que ele queria dizer 5 anos e somente naquele momento me chamou a atenção algo em seu rosto: uma cicatriz!
Aquela constatação, aliada à idade dele, me causou uma estranhíssima sensação, uma sensação de déjà vu, uma vez que eu, na mesma idade dele, fui vítima de um acidente caseiro que me custou uma cicatriz – e no mesmo lado do rosto que a dele! -, fato esse que me transformou num menino e adolescente tímido e complexado.
Essa constatação me trouxe um sentimento de profunda simpatia e solidariedade por aquele garotinho. E lágrimas abundantes, também.
Senti uma vontade irreprimível de abraçá-lo, de pegá-lo em meu colo, de fazer milhares de perguntas sobre sua vida…
E levantei-me, a fim de fazer isso. Todavia, algo ainda mais estranho aco nteceu: aquela figura simplesmente desapareceu da minha visão!
Estupefato, deixei-me cair sentado no banco, mergulhado num turbilhão de perguntas sem respostas. E, num primeiro momento, senti vontade de sair correndo, correndo daquela praça, sem nenhum destino, à espera, talvez, de que o vento no meu rosto decifrasse as dúvidas.
Entretanto, o adulto que me tornei falou mais alto e, respirando calma e profundamente, tentei me recompor e, como se nada tivesse acontecido, meio que automaticamente, continuei a leitura, agora em voz alta, do poema iniciado:
“- Ai paletós, ai gravatas,/ Ai cansadas cerimônias,/ Ai rituais de espera-morte!/ Quem me devolve o menino/ Sem estes passos solenes,/ Sem pensamentos grisalhos,/ Sem o sorriso cansado! Que varandas me convidam/ A ser criança de novo,/ Que mulheres, só meninas,/ Me tentam cabular/ As aulas do dia a dia?/ Eu sou aquele menino/ Que cresceu por distração.”
Mal terminando a leitura, senti que meus olhos já não focavam mais o ambiente em que me encontrava; um estado de devaneio começou a tomar-me o corpo, a mente e o espírito. Já não conseguia mais sentir o próprio corpo e o som ambiente: uma mistura de buzinas, música de publicidade e vozes, destacando-se a de um evangélico que pregava como um João Batista no deserto. Tudo começava a diminuir de intensidade.
Os ponteiros do relógio giraram no sentido anti-horário. Os segundos, os minutos, as horas, os dias, os meses, os anos escoaram numa velocidade vertiginosa, como se aquela ampulheta imaginária fosse a Máquina do Tempo, da fantástica história de H.G. Wells. E, de repente parando, à minha frente uma folhinha pendurada na parede apontou o ano: 1965. Cinquenta anos se passaram, numa volta ao passado!
Estamos numa tarde de verão de uma Sorocaba de meio século atrás, com uma população cujo censo de 1960 apontava uma população de 138.323 habitantes. Há cinquenta anos, a cidade tropeira já se destacava na região pelo número de habitantes, mas, apesar disso, ainda era uma típica cidade do Interior, com muitas áreas verdes (e mato), ruas de paralelepípedos e de terra onde, nestas, a criançada fazia buracos no chão pra brincar de bolinha de gude ou de cachuleta, ou, ainda, de pega-pega, unha na mula e outras brincadeiras que o Tempo levou consigo, para as Páginas da Memória.
Era uma época em que os ponteiros do relógio pareciam caminhar a passos lentos e os dias escoavam como a própria eternidade.
Começo a caminhar por uma das ruas, sentindo-me como um espectro, um fantasma semelhante a Ebenezer Scrooge, o velho avarento de ‘Um Conto de Natal’, célebre história do escritor inglês Charles Dickens.
Aquela rua me desperta uma emoção há muito tempo não sentida. Uma saudade dolorida de um tempo em que, nos bairros, principalmente os mais pobres, os vizinhos mantinham uma relação de amizade muito próxima.
Pouquíssimas casas tinham televisores – em preto e branco -, o que levava os vizinhos que os tinham a abrir a casa para os que não desfrutavam desse privilégio.
Nas festas mais importantes do ano, como o Natal, todas as portas se mantinham abertas, para um intercâmbio de frutas natalinas e de quitutes, conforme a especialidade de cada vizinho.
Caminho absorto, à procura de pessoas queridas, porém, apenas ouvindo ecos do passado.
É um final de uma tarde de verão e, no mesmo lugar de sempre, deparo-me com o menino que um dia eu fui. Um menino de 5 anos de idade, com um corte de cabelo tipo ‘americano’, de camisa branca (já um tanto surrada), de calção e descalço, sentadinho no degrau de uma casa.
A rua, àquela hora, já se mostrava praticamente vazia. Ele era a única criança fora de casa.
Os vizinhos já conheciam o garoto e sua inclinação contemplativa e já não mais estranhavam aquela figura miúda, magrinha que, de vez em quando, mergulhado em pensamentos, saboreava um pedaço de pão seco.
Um passante mais atento talvez observasse que ele, naquele momento eterno, olhava apenas para cima. E um ou outro até perguntava o que ele estava fazendo. E, para quem perguntasse, a resposta era sempre a mesma: olhando as nuvens!
Para os adultos, em particular as mulheres, olhar as nuvens parecia coisa própria de quem quer verificar o tempo, para poder secar roupas no varal. Ou de meteorologistas, antes de consultar seus gráficos.
Para aquele menino, todavia, as nuvens tinham outro significado. Principalmente as do tipo ‘cumulus’, que são aquelas de contornos nítidos, com base aplainada e bem definidas, formadas em baixas altitudes e que, sob a ótica dele lembravam montanhas, castelos e animais.
Para aquele menino sonhador, de um tempo de infância interiorana, de horas lentas, ruas de terra ou de paralelepípedos e de poucos carros, aquelas nuvens representavam um enorme Parque de Diversões. E seu desejo era, um dia, alcançar o topo daqueles algodões branquíssimos que, para ele, tinham consistência e poderiam, dessa forma, ser escalados.
Seu sonho, no entanto, tinha um obstáculo intransponível: como chegar até elas? E os dias passavam, as tardes se faziam noite e, nos outros dias, pelo verão afora, lá estava aquele pequeno ‘filósofo da natureza’, à espera de um foguete imaginário ou mesmo um Pegasus que o levaria, literalmente, “às nuvens”.
Se os vizinhos em geral já não estranhavam aquele devaneio diário, um ou outro o interpelava, zombando dele ou apenas a título de curiosidade:
– Tato, mas por que tanto você olha paras as nuvens?
E a mesma resposta já estava na ponta da língua:
– Por que eu gosto, ué!
– E por que você gosta tanto assim de ver as nuvens?
Aquela pergunta parecia exercer um efeito mágico no espírito do menino e ele, feito um adulto, um cientista ou, mais precisamente, um poeta, respondia, entusiasmado:
– Tá vendo aquela ali? – E, apontando para uma não muito arredondada, a definia:
– Aquela parece um cachorro.
– E aquela outra, bem grande, no meio do céu? Aquela é a que eu mais gosto. Ela parece assim como se fosse um monte de travesseiros, um em cima do outro, formando uma montanha. Eu morro de vontade de subir e de brincar nela!
Os adultos sorriam diante daquelas palavras, para eles tão destituídas de realidade. E, despedindo-se do menino, certamente pensavam: “Criança tem tanta imaginação!”
E o menino ali continuava, qual uma sentinela. E, naqueles poucos e fugidios momentos, como num filme projetado em alta velocidade, o vi crescendo; crescendo e continuando a querer brincar nas nuvens.
Mas, assim como as nuvens se desmancham, sopradas pelo vento, aquele menino foi se desfazendo à minha frente e, com ele, as casas, a rua toda… e a minha infância, também!
Uma sirene ecoou estridentemente no ar e meu coração disparou. Abri meus olhos e, assustado e decepcionado, percebi que estivera sonhando. Estava na mesma praça onde ouvia as mesmas buzinas, a mesma música de publicidade e as mesmas vozes, num ruído que parecia ensurdecedor.
Consultei o meu relógio: marcava 16h15. Praticamente o mesmo horário em que conversava com o menino.
Com um sentimento de tristeza a apertar meu peito, não senti vontade de continuar a leitura dos poemas. E, menos ainda, de me levantar do banco.
Contudo, logo mais teria que cumprir o compromisso assumido.
Num esforço redobrado, reuni forças e levantei-me, ainda visivelmente contrariado.
Naquele momento um homem passou por mim carregando um espelho grande. Olhei para ele e me vi refletido. E me vi ainda mais velho e abatido, como se o espelho fosse o famoso retrato de Dorian Gray.
Uma brisa, porém, pareceu roçar meu rosto. Apesar da tarde quente e sem vento, podia jurar que em todas as árvores ao redor as folhas se agitavam, suavemente.
Um passarinho multicolorido voou de uma das árvores em minha direção e, passando por mim, ganhou altura.
Segui seu voo com meus olhos e, somente naquele momento, percebi uma gigantesca nuvem cumulus bem no centro da minha visão.
E, no topo dela, alguma coisa me chamou a atenção: era um menino!
Um menino que brincava nas nuvens!
Por Sergio Diniz