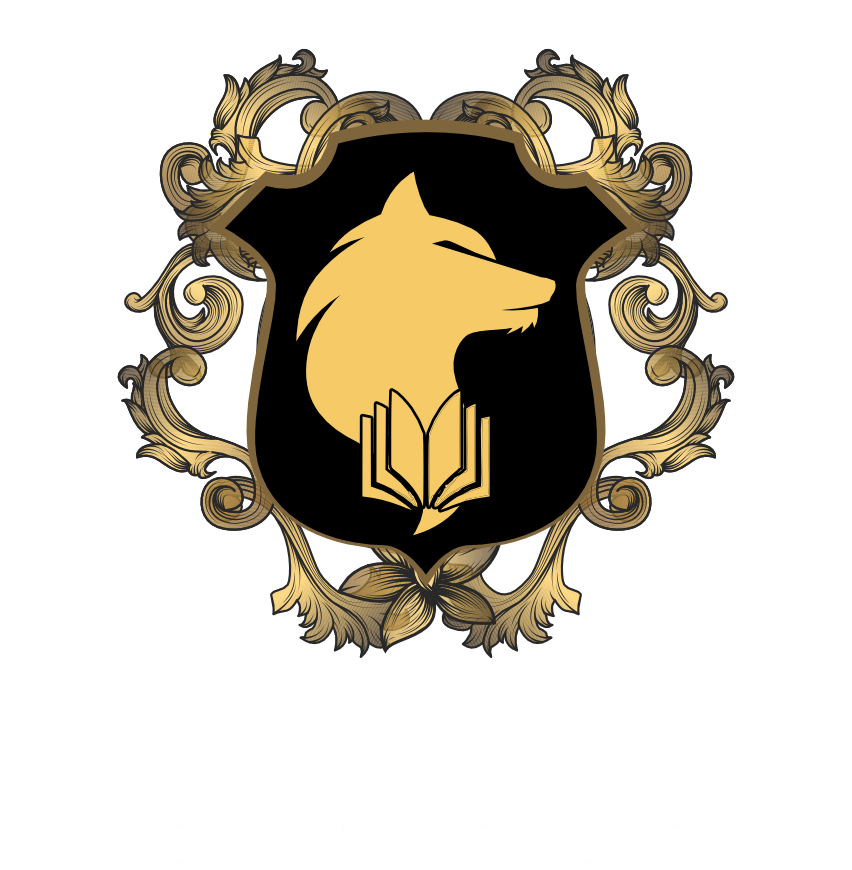Inteligência artificial e arte. Muitos de nós leem essa frase vendo nela um embate. Muitos de nós a leem vendo aí uma potencialidade. Eu não sei ao certo o que você sente ao se deparar com tantas notícias recentes sobre esse tema. Também eu confesso ainda estar um tanto perdida, dada a complexidade dessa paisagem. O que me tranquiliza é saber que aqui, nesse cantinho da revista The Bard, podemos trocar uma ideia sobre se afinal de contas a arte tem relação com a inteligência artificial ou não.
A primeira questão que quase todos colocam é a da criatividade. Enxergam na arte um campo privilegiado de criação, de engenhosidade, de genialidade humana (intocável ou que ao menos deveria assim permanecer). Tudo o que as máquinas a princípio ainda não sabem fazer. Para piorar, elas parecem imitar mal o que os artistas humanos tanto se dedicam a inventar, roubando-lhes descaradamente ideias, referências e citações, no acesso ao mundo web.
Daí surge a segunda questão, a da autoria. A quem atribuir e a quem pagar pelo trabalho desenvolvido com a utilização de uma inteligência artificial instalada em seu computador? De quem é a foto? De quem é a imagem que ilustra o livro? De quem é a peça de arte em formato NFT (non fungible token ou token não fungível)? Regulamentações jurídicas são então conclamadas para que se coloquem os pingos nos is. Nem parece ser arte um resultado que pode ser obtido em poucos minutos. Não parece condizente com a fantasia que criamos de um artista consumido por um trabalho árduo de sensibilidade. Pincelar digitalmente é facilitar demais as coisas, quando podemos imaginar que um óleo sobre tela deva receber no mínimo 8 camadas de tinta e 39 correções feitas por uma mão trêmula e cansada.
Eu sinto que muitas das questões que têm aparecido em debates, entrevistas, colunas de jornal e revista, vídeos de streaming e opiniões fervorosas em redes sociais sobre o encontro entre as inteligências artificiais e as artes são equivocadas. Porque elas me parecem trazer como fundamento visões distorcidas do que sejam esses processos, especialmente no que se refere a arte. Grande parte do público, por desconhecimento técnico ou movido pelo desejo da polêmica fácil, sequer entende bem o que realmente seja um sistema inteligente de busca de padrões e reconhecimentos, tampouco suas consequências para a economia global (das finanças mas também dos nossos afetos); o que mais sabem fazer é alardear cenários apocalípticos de robôs mais inteligentes que nós que certamente, na primeira oportunidade, irão nos destruir.
Quanto a arte muitos sustentam uma visão purista e anacrônica, passando bem ao largo de um debate suscitado há décadas sobre o quanto de criatividade e o quanto de economia há na arte, e o quão inócua é a busca pela definição de fronteiras precisas. Sempre me recordo da gravação de uma palestra de Silvio Meira para o Sesi Cultura Digital, ocorrida há uns bons anos, a que assisti algumas vezes com intenção de trabalhá-la em sala de aula: a tônica ali era realçar o quanto o processo artístico é estruturado sobre as bases da lógica industrial da série, das muitas variações de uma mesma obra, da exploração monetária e de força produtiva de uma ideia um tanto original, há séculos.
A minha tentativa aqui, portanto, é mostrar que as inteligências artificiais que aí estão e todas aquelas que ainda serão criadas nos próximos anos (não serão poucas) servem para compor um cenário conceitual sobre quem nós somos, e as artes têm olhado para elas dessa forma, como incômodas, estranhas, desafiadoras, e têm buscado por meio delas e com elas criar belíssimas obras, com efeitos encantadores.
Afinal, as inteligências artificiais são sistemas algorítmicos que correspondem aos avanços característicos do nosso capitalismo de dados, e as gigantes da tecnologia detêm tanto as competências técnicas quanto o acesso às massas de informações digitais, superproduzidas em motores de busca e redes sociais. As aplicações das chamadas I.A.s são inúmeras e irreversíveis: reconhecimento por biometria, mapeamento facial de segurança, cadastros em sites oficiais, bancos de dados de delegacias, softwares de sistemas médicos, dentre tantas outras.
Evidentemente que elas também estejam nos ambientes e processos culturais. E o que de melhor elas podem fazer, na minha opinião, é provocar os artistas, e que eles assim provocados proponham projetos com o uso de I.A.s que valham a pena conhecer, como estes três que apresento aqui.
A artista alemã Louisa Clément está empenhada em produzir um conjunto de bonecas à sua imagem e semelhança, que utilizarão de um sistema de inteligência artificial para poderem gesticular e falar, num efeito de avatar hiperrealista que coloca em questão quem é a artista verdadeira e quem é a cópia. Trata-se de um processo criativo durante o qual vai se tornando cada vez mais impossível determinar os limites entre o que é humano e o que é máquina, o que é original e o que é falso, e quais características são realmente inerentes à formação da nossa identidade, tema caro à jovem artista. As fronteiras, assim, entre verdade e mentira, entre fatos, fake news e deep fakes, entre presença e ausência de artistas e celebridades que já se foram e que podem agora retornar a palcos e anúncios publicitários, são abaladas.

A dupla conhecida como A. A. Murakami produz obras com tecnologia efêmera para evocar os primórdios de nossa origem e possíveis mundos futuros, já há alguns anos. Um trabalho em específico, intitulado Floating World Genesis, é composto por 250 NFTs com cenas animadas de bolhas coloridas que buscam emular a expansão da energia e a divisão de moléculas e células durante a origem da vida no planeta Terra. Também outros projetos desses artistas, que transitam entre Londres e Tóquio, respondem a esse propósito de ilustrar o imaginário que nos alimenta há muito tempo sobre o que teria acontecido antes de nós, o que já rendeu experimentos inclusive científicos em décadas passadas. Passado e futuro são construídos com o uso de inteligências artificiais sofisticadas para que possamos ver o que nunca vimos e sentir o que nunca sentiríamos de outra maneira.
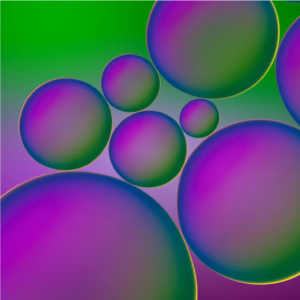
Já em território nacional cito o experimento Álbum Afirmativo, coordenado por Guilherme Bretas, com curadoria de Ana Paula Rodrigues Borges, pesquisa de Rodrigo Augusto das Neves, coparticipação do Coletivo Malungo da FAUUSP e da equipe do Preta Lab e texto de Giselle Beiguelmann (a quem acompanho faz um tempo). Uma seleção de 28 fotos tiradas pelo fotógrafo Militão Augusto de Azevedo (1837-1905), retratos de ex-escravizados, pertencentes ao acervo do Museu Paulista da USP, foram exibidas aos pesquisadores negros que integravam a equipe e suas emoções foram gravadas em vídeo e trabalhadas com técnicas de deep fakes para dar movimento àqueles rostos estáticos das fotografias de época. O propósito principal era utilizar I.A.s para dar voz àqueles historicamente silenciados, mas o grupo de pesquisa chegou à conclusão de que tais tecnologias não respondem bem a retratos fotográficos de pessoas negras tanto quanto de brancas. O resultado dos deep fakes reforça a percepção que hoje já se tem sobre o quanto o racismo estrutural impregna sistemas computacionais ditos inteligentes

Com essa pequena mostra espero ter conseguido trazer um novo olhar sobre como as inteligências artificiais carregam provocações que são muito nossas e das quais não podemos nos esquivar, e mostrar como os artistas problematizam o debate de um jeito também muito próprio, conectando-se visceralmente com angústias, recursos, desafios e riscos que as tecnologias impõem, criando a partir do que aos poucos tentamos entender destes nossos tempos.
Até a próxima!
Por VANINA SIGRIST